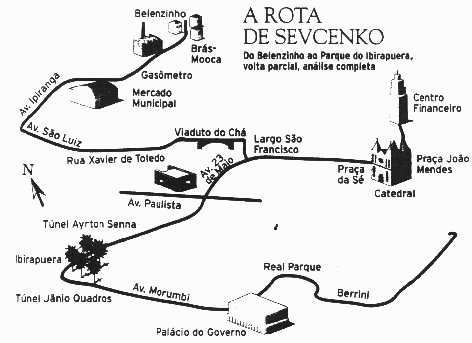
São Paulo: não temos a menor idéia
A tragédia da metrópole que prometia ser modelo de civilização cosmopolita e hoje vive aturdida, sem saber como sair do caos
Nicolau Sevcenko
(Texto a partir de um percurso pela terceira maior cidade do mundo)
Revista Carta Capital, 29/09/1999
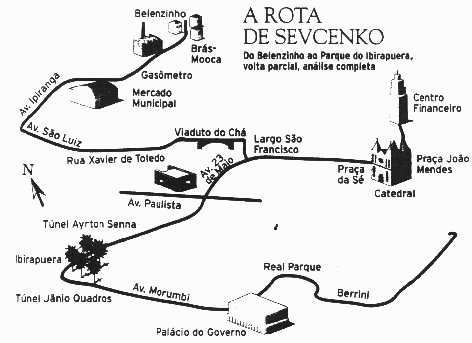
"Eu adoro esta cidade.
São Paulo é como o meu coração
Aqui nenhuma tradição
Nenhum preconceito
Nem antigo nem moderno
Só contam esse apetite furioso essa confiança absoluta
Esse otimismo essa audácia esse trabalho esse esforço
Essa especulação que faz construir dez casas por hora
De todos os estilos ridículos grotescos belos grandes pequenos
Norte e sul egípcio yankee cubista
Sem outra preocupação que a de seguir as estatísticas
Prever o futuro o conforto a utilidade a mais-valia e
Atrair uma enorme imigração
Todos os países
Todos os povos
Eu amo isso..."
Com esse poema, uma das peças mais sutis já escritas sobre a cidade, o poeta franco-suiço Blaise Cendrars saudou a capital paulista quando aqui esteve em meados dos anos 20.
Ele era naquele momento o poeta mais importante no contexto da arte moderna. Membro do grupo de artistas associados ao circulo de Picasso, ele e Apollinaire haviam criado a poesia cubista. Após a Grande Guerra ligou-se a Jean Cocteau, Fernand Léger, Darius Milhaud e aos Balés Russos de Diaghilev, empolgando a cena parisiense e o mundo da cultura.
Que ele tenha se apaixonado por São Paulo, para onde voltou várias vezes nos anos 20, diz muito e talvez o essencial sobre o sentido histórico da cidade.
Fundada pelos padres no início da colonização do Brasil, ela nasceu como um projeto ambicioso de utilizar o curso do Tietê para o interior, com vistas a alcançar as profundezas do território e a constituição de um gigantesco império jesuítico-guarani.
O pauperismo dos recursos, entretanto, levou a população, predominantemente mameluca, a optar pela escravização e venda dos indígenas catequizados, destruindo as missões dos padres. Era o prenúncio de uma dimensão maligna contaminando a utopia.
DA ALDEOLA À METRÓPOLE. A pobreza e a escassez geral prevaleceram até a súbita irrupção da lavoura cafeeira no oeste paulista. Fruto de uma pressão do comércio internacional, motivada pela necessidade de estimulantes para manter alertas e ativos os contingentes de um novo operariado industrial, não surpreende que a exploração dessa riqueza fosse comandada do exterior por capitalistas britânicos. E, para melhor controlar a manipulação dos estoques, os quais representavam mais de 75% do mercado mundial, os ingleses resolveram centralizar sua malha ferroviária num ponto intermediário entre as fazendas e o porto exportador: a cidade de São Paulo. Como num passe de mágica, entre o final do século passado e o início desse, a aldeola paupérrima se tornou uma das metrópoles com a maior taxa de urbanização do planeta.
Gente de todos os pontos do Brasil e todos os quadrantes do mundo afluiu atraída pela nova riqueza e as promessas de distribuição de recursos e oportunidades.
Blaise Cendrars, ele mesmo um imigrante que viveu em várias partes do mundo, vibrou com essa imagem de um vasto laboratório social, onde se criaria uma democracia feita das melhores esperanças de todas as gentes e de todas as culturas, uma cidade que era ela própria uma obra cubista coletiva.
DO SONHO AO PESADELO. Revisitada no fim do século, a capital revela que o sonho abortou. Em seu lugar se impôs um pesadelo composto de horror, náusea e miséria. Ao redor da cidade, um denso cinturão de pobreza configura o quadro de um Prometeu acorrentado. Os miseráveis, relegados à própria sorte, não vislumbram alternativas senão as de viver de excedentes, expedientes, coletas dos resíduos do consumo despegados nos lixões. É o mundo dos grileiros, das gambiarras, dos curandeiros, do crack, das chacinas, dos justiceiros. Ao contrário do passado, não é no interior do território que esses desenganados vão disputar a sobrevivência, mas no coração da cidade.
O completo colapso das distinções entre o público e o privado vai desde a corrupção endêmica de autoridades até a modelação das calçadas conforme o interesse de cada morador, tornando o singelo ato humano de caminhar num tormento para um ser comum, que dirá pessoas idosas, com crianças ou deficientes. O primado dado aos carros chegou ao paradoxo de paralisar o tráfego. Camadas compactas de placas, cartazes, faixas e grafite transformam o cenário numa massa turva, abjeta, submersa em nuvens de gases, ruído ensurdecedor e envolta numa teia de fiação cerrada. Faltam jardins, falta lazer, faltam respeito, solidariedade e compaixão.
Acorda Blaise! Sem tua inspiração despencamos no precipício entrópico.
BELÉM E BELENZINHO. Esta região mais próxima ao metrô fica numa confluência com a área da alta especulação imobiliária no Tatuapé. Uma parte se chamou Belém e a outra, Belenzinho. A lógica da cidade e essa lógica dos loteamentos, não de um plano ordenador. Daí o caos que a cidade por si só acaba constituindo, como um mosaico, e não como um todo orgânico e articulado. Há uma dificuldade enorme para você deslocar de uma parte a outra da
Cidade sem ter de passar necessariamente pelo Centro e entrar nos fluxos de trânsito congestionado. É um loteamento do começo do século, que teve expansão ao longo dos anos 20, 30 e 40. É a área do início da industrialização em São Paulo onde se concentrou, sobretudo, a imigração italiana. Hoje em dia, no processo de desindustrialização, a maior parte desses grandes pavilhões industriais está sendo desativada e se torna área para construção civil. Há uma disputa porque estamos próximos do metrô, e há uma proliferação de shopping centers e de serviços, que vão tornando a área cada vez mais saturada.
É óbvio que a estrutura viária dela não comporta essa ampliação de serviços e a concentração de edificações verticais. A área leste da cidade sente dramaticamente a carência de áreas verdes, espaços de lazer, parques, áreas de recreação, locais onde pudesse haver convivência comunitária e familiar. Todo o espaço foi aproveitada de forma a propiciar loteamentos ou pela apropriação ilegal das grilagens.
ITÁLIA E NORDESTE. Aqui havia uma cultura própria, uma cultura à parte. Era uma espécie de cidade dentro da cidade, uma outra São Paulo, cujo tônus se devia à presença da comunidade imigrante, com todas as suas celebrações tradicionais, com suas festas da origem dos imigrantes organizadas pelas paróquias locais. Enfim, constituía uma espécie de folclore dentro da cidade de São Paulo, na medida em que definia um perfil absolutamente peculiar, assim como o Bom Retiro e a Liberdade.
No Belenzinho, no Belém, na Mooca e no Brás, o processo teve duração muito curta e a tendência foi a degradação crescente. As segunda e terceira gerações foram para outros bairros mais centrais ou para novos núcleos de expansão da cidade. Houve uma substituição das ondas de imigrantes. Esta, por exemplo, se tornou uma área de concentração de migração
nordestina, sobretudo por conta da proximidade com as estações, a Estação do Norte, a Estação da Luz e todo o complexo viário. É muito mais uma área de passagem do que propriamente um bairro integrado com caráter comunitário. É um lugar de fornecimento de produtos de baixo custo, têxteis ou calçados, que são repassados por distribuidores para todos os cantos do Brasil e para os países próximos.
CONCÓRDIA SEM CONCÓRDIA. O Largo da Concórdia sempre foi o núcleo histórico e integrador do bairro. Mas hoje está num estado de absoluta degradação. É um local que foi apropriado pelos vendedores ambulantes, o que tornou essa área sobretudo de trânsito.
O largo era o centro da agitação anarquista - além dos italianos, havia também muitos espanhóis. No Largo da Concórdia - o nome é extraordinário - se faziam as grandes reuniões políticas. Em geral, terminavam no confronto direto entre os manifestantes e a polícia, e o local virava uma área de confrontação, quase de guerra civil. Como era a regra do início do século, as autoridades entendiam que o problema social era de polícia e, portanto, se reduzia à linguagem do cassetete e das cargas de cavalaria. O Largo da Concórdia era então o centro da contestação operária em São Paulo.
Outro aspecto importante é como, na área, espaços de lazer originalmente dedicados a cinemas e teatros, bem como galpões industriais, viraram Igrejas pentecostais, evangélicas. A presença desse evangelismo é fortíssima na região e dá o tônus de qual é o tipo de agregação que consegue ter mais vitalidade, como sinal de um futuro para o qual nossas autoridades, e nossos intelectuais ainda não estão completamente preparados.
TRANSIÇÃO DE ELITES. O palácio das Indústrias foi construído para a primeira exposição industrial em 1920. Foi aí que ficou evidente, durante a exposição, que 100% dos participantes eram imigrantes italianos e que, portanto, havia uma transição de elites no País, sinalizando o declínio da elite tradicionalmente associada à agricultura, à monocultura, em especial ao café, e a ascensão de uma nova elite ligada à indústria.
A elite tradicional sonhou então enaltecer um passado glorioso e heróico através do mito do Bandeirante, como sucedâneo para o declínio do seu papel real, compensado pela inflação da sua significação histórica, e estigmatizar a figura do imigrante, como ameaça, como aquele que quer descaracterizar o Brasil e aquela herança. Tal foi o foco do nacionalismo brasileiro que culminou no período de grande intolerância no contexto da Segunda Guerra Mundial, tempo do regime de Vargas, em que há uma sistemática perseguição a instituições que tivessem qualquer conotação de presença de estrangeiros ou de imigrantes.
São Paulo vive então em um contexto particularmente doloroso, que estigmatizou o imigrante e criou uma espécie de sensação de inferioridade, de tentativa de esconder a própria origem e um impulso de mostrar ser brasileiro, sobretudo para conseguir aceitação social. É um trauma da história recente que até hoje não foi resolvido.
O PONTO DO CONTROLE. A área do Mercado Municipal é muito relevante. Não foi por acaso que o mercado foi feito aqui, porque aqui é uma espécie de entroncamento entre a área leste e a área norte da cidade. A área leste com a presença da migração e da população industrial em crescimento e expansão constante, e a área norte ainda mais relacionada à Cantareira, às chácaras e ao fornecimento dos hortifrutigranjeiros. No início era mercado de rua, posteriormente foi transformado nesse suntuoso Mercado Municipal, um edifício belíssimo. E também, é claro, a conexão com a área central da cidade. Ligado a isso, muito próximo, sobretudo depois da criação do Viaduto Santa Efigênia, está o centro histórico, o Vale do Anhangabaú e, mais à direita, a Estação da Luz, o Parque da Luz, o Palácio do Governo e o quartel estratégico da Polícia Militar, o Quartel da Luz.
Então é muito significativo que todo o controle da cidade se fazia por esse ângulo, porque ele dava muito mais percepção e controle da articulação do conjunto. É o que deu a essa região a vocação de ser uma área de passagem.
Naturalmente, a expansão do trânsito foi o que determinou a decadência e a desqualificação urbana da região. É claro que isso exigiria uma contrapartida da autoridade pública no sentido de resolver essa saturação viária e conseguir requalificar a região, sobretudo criando áreas de amenidades, de lazer, de convivência.
O MAIOR PRÉDIO DO MUNDO. À noite, a região morre Completamente, não tem nada que fixe a população, que a atraia. Dessa forma, ela se torna altamente insegura. Há tentativas para recuperar a área, por exemplo, a restauração da Estação Júlio Prestes, que deu origem a um belíssimo teatro. É uma iniciativa, obviamente, muito louvável. Mas, sozinha, não basta. No entanto, um conjunto sistemático de intervenções das autoridades poderia contribuir para reconfigurar toda essa área e restaurar o elemento fundamental que ela tem como definidor do caráter, da identidade histórica de São Paulo. Seria o oposto do que se pretende ao devastar 60 quarteirões para erguer o maior e mais alto edifício do mundo. É um projeto anunciado, previsto para esta região, entre a Estação da Luz e o Mercado Municipal.
Nada poderia ser mais infeliz, nada mais descabido, nada mais despropositado. Em particular, nada poderia ser mais provinciano, embora se queira apresentar esse prédio como urna marca metropolitana. Na verdade, é um projeto que foi oferecido em outras praças e recusa do pela sua óbvia natureza agressiva a qualquer estrutura urbana.
A sua aceitação aqui se dá porque a autoridade pública ainda entende que administrar é um gesto de visibilidade. Só através da criação desse gênero de março é que uma administração registra a sua presença, impõe a sua imagem na cidade e aí pode fazer daquilo plataforma de sua futura vida pública.
AUTORIDADE SUBSERVIENTE. A Praça da República foi um dos marcos da administração que de fato fixou a fisionomia de São Paulo, através do primeiro plano articulado e de um projeto de urbanismo de extração européia, francesa e inglesa. Foi a administração do conselheiro Antonio Prado. O Jardim da Luz e a Praça da República eram dois dos marcos centrais desse urbanismo.
Com o declínio da área central, esses pontos viraram locais de circulação de populações excluídas e de alta periculosidade. Todo o caráter de atração de agregação social, de convívio e de civilidade que elas representam foi destruído.
Há um projeto agora para recuperação da área central, o projeto Viva o Centro, que tem significativos méritos, mas não compõe com um plano articulado para o conjunto da cidade, pensa localmente o Centro e nesse sentido, tem um efeito menos conseqüente sobre a reformulação do projeto da cidade do que poderia ter. Até porque os grandes investimentos nos últimos anos, com a administração de Paulo Maluf, foram todos no rumo da expansão movida pela especulação imobiliária: a Faria Lima e agora, atravessando pela Berrini, o Morumbi.
A autoridade pública sempre teve um comportamento subserviente, fornecendo recursos que beneficiavam as fronteiras de expansão imobiliária em proveito das classes mais afortunadas, em detrimento das áreas pobres e mais degradadas da cidade, sobretudo nas regiões das várzeas, das áreas alagadiças, até muito recentemente, os anos 70, submetidas a periódicas enchentes que destruíam os seus bens e dizimavarn seus animais domésticos.
PASTORES E PROSTITUTAS. A Praça João Mendes virou um ponto de prostituição à luz do dia e da noite. E nas cercanias se estabelece uma convivência estranha porque também é uma área em que proliferam templos de cultos pentecostais. Convivem lado a lado uma atividade e outra, o que torna particularmente exótico esse contexto. Além de todo esse ruído, alem de todo esse congestionamento de trânsito, além de toda essa acumulação de bancas e barracas, que impedem o fluxo livre das pessoas, que emperram a movimentação e tornam o que já era complicado imensamente mais convulsionado.
Agora observe. A igreja na esquina tem traços coloniais antigos, dignos, mas são obrigados a compor com a degradação da paisagem. Algo semelhante ocorre na outra esquina da Avenida Liberdade, a Igreja dos Enforcados, marco da cultura popular, num estado de completo abandono.
Erguida sobre um cadafalso, a Igreja dos Enforcados tem uma conotação em particular ligada à cultura negra, porque em geral eram os escravos que eram executados naquela área. Então é um local que tem uma força simbólica enorme, mas invisível para quem passa na região ou tenta entender o contexto urbano da cidade, por conta desse abandono que não é somente físico mas também da memória, um abandono histórico.
ESPAÇO SEGREGADO. O caso da imigração japonesa na Liberdade é muito interessante. Temos ali uma comunidade, por razões culturais, bastante coesa e voltada para si mesma. Por isso pode preservar instituições, costumes, pode preservar os modos pelos quais as gerações mais antigas passaram suas tradições para as mais recentes. Mas, da mesma forma, ela acabou aderindo à lógica da cidade, que é a dessa indefinição entre o público e o privado.
Aí você assiste, também na Liberdade, a situações nas quais o espaço público é apropriado em função de interesses que são, sobretudo, provenientes da comunidade, ou o contrário, como interesses da comunidade são apropriados para o espaço público para torná-la uma espécie de parque temático da cidade. Dessa forma, em vez de pensar na Liberdade como um espaço integrado, ela fica como um espaço ainda mais segregado, ainda que simbolicamente. A primeira imigração que ali se concentrou foi a japonesa, mas as gerações posteriores foram saindo do bairro e sendo substituídas por ondas de outros imigrantes, em geral orientais, como os coreanos e os chineses.
POLUIÇÃO VISUAL. Nem mesmo a abside da Catedral, na Praça João Mendes, é poupada pelos grafiteiros. A questão da poluição visual é um capítulo à parte. É absolutamente necessário reagir, enfim, tomar alguma espécie de medida, provocar uma articulação de esforços para restaurar a idéia de que a cidade chegou no limite da poluição visual.
O grafite, obviamente, foi convidado por essa desqualificação. Não veio por acaso. O espaço já estava suficientemente degradado e o grafite se dispôs a dar a sua contribuição. A catedral é uma dessas formas pelas quais a cidade tenta construir um passado mitológico, tenta se recontextualizar para fora da sua própria história, tentando se pôr numa outra história que não é a dela. Nesse sentido, em vez de significa rum marco diferencial, acaba se tornando o oposto, uma diluição da possibilidade da constituição desses registros que dessem aos cidadãos o sentido da sua ligação com essa paisagem e com o desenvolvimento de São Paulo.
E remete para um marco que é o da Idade Média, do gótico europeu, completamente alheio, estranho, exótico, aberrante, quando plantado na área histórica mais importante e mais tradicional da cidade, com uma escala monumental que o próprio espaço constrangido da Praça da sé não comporta.
MARCO HISTÓRICO. A situação a essa altura é tal que, com os marcos que assinalavam a história da cidade praticamente, todos eles, destruídos, consumidos pela autodevoração que a cidade vai-se expandindo, o Pátio do colégio significa em primeiro lugar um espaço simbólico e, em segundo, um território em que sobrou um mínio da história tardia da cidade. Isso justificaria o esforço de tentar preservar esse mínimo que havia sobreexistido á demolição geral.
Já cidade foi fundada ali porque as qualidades defensivas daquele outeiro são extraordinárias.
Ele domina toda a paisagem que vai até o Rio Tietê, áreas de várzea.
Daquele ponto pode-se divisar quem esteja chegando desde muito longe. Ele é protegido pelos declives naturais em direção ao que é hoje o Parque D. Pedro, a várzea do Carmo, e em direção ao vale do Anhangabaú, em situação altamente propícia a uma formação defensiva.
Para nós, hoje, é impossível pensar São Paulo como um forte com natureza de ocupação européia, num contexto de populações indígenas, em grande parte hostis.
No entanto, para entender a história da cidade seria absolutamente decisivo recompor de alguma forma esses marcos que nos fazem entender por que razão aqui, no meio do nada, se desenvolveu essa cidade que teve uma história sui generis e do dia para a noite se tornou uma das maiores metrópoles do planeta. A gente vive nela, ela é convulsionada, não temos a menor idéia de como chegamos a esse ponto.
COMPROMISSO TRAÍDO. Não é a preocupação de fazer um parque temático que atraia turistas para a cidade. A idéia seria dar oportunidade para a população da própria cidade compreender o caráter único, singular, dessa aventura que foi a fundação e o crescimento, primeiro mínimo e depois estrondoso, da cidade de São Paulo.
E de como ele dá uma imagem bastante nítida da situação singular do próprio Brasil vivendo num estado de conformismo, de aceitação das coisas como se as coisas assim fossem porque assim foram sempre, quando na verdade a cidade nesse processo comportou um projeto de promoção social, de democratização, e idéia de que com o crescimento viria a possibilidade das ampliações de oportunidades, das ampliações de recursos básicos de moradia, educação, saúde.
Portanto, vir para São Paulo era um projeto de comprometimento com um futuro de prosperidade. Isso está na história da cidade e é o elemento definidor da razão de termos chegado ao sucesso. No atual momento em que há urna reversão disso, uma desurbanização de São Paulo e uma estagnação do crescimento econômico, a gente se sente vitimado como se estivesse preso numa armadilha, quando pensávamos ter galgado um trampolim.
CENTRO FINANCEIRO. Pode parecer estranho que o centro financeiro de São Paulo esteja no meio desta área degradada. Mas o centro financeiro em qualquer parte do mundo, no contexto das sociedades capitalistas, é e sempre foi profundamente conservador. Então os marcos de constituição da comunidade financeira acabam se tornando referências permanentes. Podemos pensar assim com relação à Bolsa de Nova York, à Bolsa de Londres, à Bolsa de Amsterdã, e também com relação a São Paulo.
Tendo sido a principal Bolsa de Café, movimentando fortunas incalculáveis durante um longo tempo, essa vocação acabou se fixando, atraiu instituições financeiras ao seu redor e capitalizou a articulação entre a idéia do jogo dos investimentos e a conotação desse espaço originário entendido como rocha, sólida base de fundação, como Manhattan em relação a Nova York.
A presença de instituições poderosas deve ser necessariamente uma força interveniente na preservação da qualidade da área que é o seu espaço de circulação, seu espaço simbólico. Essa é uma das razões da Fundação Viva o Centro. De fato, são principalmente as instituições financeiras que estão envolvidas com ela.
Mais, uma vez mais, problemático é o pensar limitado, circunscrito a essa região, em vez de, a partir do poder concreto de pressão que essa área tem, forçar a autoridade pública a utilizar esses recursos de uma maneira mais equânime e equilibrada, que repercutisse num projeto de conjunto. É estratégico intervir no Centro, mas é preciso que o Centro se irradie.
PECADO ORIGINAL. Aqui tudo foi feito errado desde o início. O primeiro projeto de urbanização do Anhangabaú, na administração do conselheiro Antonio Prado, tinha duas possibilidades. Uma era fazer do Anhangabaú uma área de administração direta da autoridade pública, da Prefeitura. Ou fazer do Anhangabaú uma área de convívio entre o interesse público interesse privado.
Eram os dois projetos que foram propostos e, está claro, prevaleceu aquele que deixava parte do Anhangabaú entregue ao interesse da especulação privada. Nesse caso, o que antes deveria ter sido um parque central, núcleo de encontros, de socialização, acabou tornando-se, uma vez mais, lugar de passagem, transformado, enfim, em autopista, estacionamento, centro de manifestações cívicas, mas jamais em área de convivência, de encontro civil, de congraçamento.
Obviamente, é a área que define a fisionomia da cidade. É aquela a partir da qual a gente pode entender a topografia peculiar da cidade, aquela que revela melhor do que qualquer outra os diferentes níveis, declives, aclives. Dali se vê tanto os baixios do Carmo como as profundezas da várzea do Tietê e as montanhas da Cantareira. Do outro lado se vê o espigão da Paulista, a área histórica, os marcos da segunda expansão de São Paulo, a partir do Teatro Municipal em direção à Barão de ltapetininga e à Praça da República.
Enfim, não há qualquer dúvida sobre a importância paisagística e simbólica do Vale do Anhangabaú, que foi sempre tragicamente desperdiçada, exatamente por essa inibição da autoridade pública em assumir os espaços que lhe competiam para defender a imagem da cidade.
A FÚRIA DO TRÂNSITO. Na Avenida 9 de Julho, a gente não pode perder a chance de comentar a degradação dos grandes corredores de trânsito, como a Radial Leste, a Santo Amaro, que se tornaram uma espécie de território de ninguém, entregue completamente à fúria do trânsito, com completa desconsideração das necessidades e da vulnerabilidade dos pedestres.
São corredores em que, se você nasce de um lado da avenida, morre daquele lado, pois não há como passar para o outro. Esses corredores dividem e retalham a cidade ainda mais, porque tornam impossível a circulação de seres humanos comuns de um lado para outro, a não ser que você use do atributo agressivo do automóvel como a única forma de se mover em São Paulo.
Cada vez mais uma parte da população vive essa realidade, trancada em casa ou no automóvel. Isso sinaliza a degradação, a desqualificação e a desurbanização, revelando um estado de decomposição do que foi até certo ponto uma cidade que tinha implicação com a idéia do progresso, da modernidade e da vida de acordo com os padrões tecnológicos mais atualizados. Mas deu-se o contrário do que se previa: a revolução da microeletrônica contribuiu bastante para facilitar que as pessoas vivam e trabalhem fora da cidade, que passa a ser vista como uma obrigação desagradável, um risco e uma perda de tempo.
VOCAÇÃO DE PASSARELA. A Paulista, como o próprio nome diz, nasceu com vocação de passarela, um espaço de exibição, de ostentação, em primeiro lugar imobiliária e, depois, dos corsos de automóveis. Era onde se concentravam também algumas áreas de convívio social das elites, como no Trianon, que durante muito tempo configurou a própria imagem da cidade.
Em qualquer situação, associar-se à imagem da Paulista era algo gratificante, dignificante, elitizante.
Esse processo teve o desdobramento esperado, como aconteceu antes ao longo do percurso, dos Campos Elíseos até a Paulista, passando por Higienópolis. O prestígio leva à concentração, a concentração leva à saturação, a saturação provoca desqualificação e, aí, o abandono. A própria concentração da riqueza atrai as pessoas mantidas num estado de miséria ou pobreza absoluta, que vêem na possibilidade de usufruir dos resíduos desse consumo exuberante a sua única forma de vida.
Então a lógica perversa é essa: esses espaços do poder e da riqueza são rapidamente cercados pela pobreza e, eventualmente, invadidos por ela. O núcleo da ostentação e da visibilidade imobiliária vai-se deslocando cada vez para mais longe, mas sempre seguido de perto e sempre na iminência do assalto. O que prevalece é a trilha da pobreza e da degradação que vai ficando por trás.
O SHOPPING NEFASTO. Na Avenida Higienópolis, fizeram um shopping com uma garagem para 1500 automóveis e saída pela Rua Veiga Filho. E mais um projeto na linha do megaedifício maior do mundo. Ou seja, tudo depunha contra esse projeto. É visível que a estrutura viária não comporta e é absolutamente nítido que aquilo vai desqualificar a vida no bairro, que até agora preservava uma certa homogeneidade.
Esse projeto sob nenhuma condição poderia ter sido aprovado ou aceito. Mas, uma vez mais, acaba prevalecendo o conluio entre a autoridade pública e o interesse privado, em detrimento da população.
Outro exemplo colossal é o Túnel Ayrton Senna, o chamado "Túnel do Maluf", de custo assombroso (mais de US$ 1 bilhão), totalmente desproporcional ao uso a que foi proposto, na medida em que serve aos estratos mais privilegiados da população e aos espaços mais beneficiados pelo investimento público e pelo investimento privado na cidade. Obviamente, poderiam prescindir desse investimento vultoso, em especial numa cidade que tem como sua massa maior a população carente do cinturão da periferia onde todos os recursos fundamentais são escassos e ainda submetida a processos de violência como a grilagem, a violência do crack, a inexistência de infra-estrutura. Hoje, a violência não é localizada, é difusa.
MUROS DE ARRIMO. Mas repare na progressão dos Campos Elíseos, Higienópolis, Paulista, Jardins, Faria Lima e, agora, em direção à Berrini, o caminho é pavimentado pelo investimento público. Veja só, já estamos no coração do Morumbi. Como é fácil articular o espaço mais agradável de São Paulo, o Parque do lbirapuera, com a área de maior concentração de renda da cidade.
Aqui, na subida do Morumbi, chamo a atenção para a altura dos muros de arrimo. Altura significa poder. É isso que está implícito na valorização dos edifícios e também está na lógica histórica. Foi isso que levou a população mais rica a ficar nas áreas mais altas, que eram mais salubres, mais secas. E nas áreas alagadiças das várzeas, que são submetidas a enchentes periódicas e à disseminação de doenças, se acumularam as populações desfavorecidas.
O resultado disso foi essa simbolização de que, quanto mais alto você está, mais poder você tem.
DE VOLTA À VÁRZEA. São Paulo teve uma característica diversa das demais cidades brasileiras, nas quais a convivência entre o privilégio e a miséria se faz de porta a porta, num mesmo espaço de convivência. O Rio de Janeiro é exemplo típico disso, Recife também. Agora, São Paulo sempre teve uma natureza mais excludente, de se fechar no seu miolo, definir áreas de privilégio e excluir as populações pobres, miseráveis e marginalizadas para as periferias distantes.
O que houve é que, com essa migração constante do eixo da especulação imobiliária, ela circulou pela área central, pelo oeste e pelo sul, e aí não teve outra escapatória senão atravessar a região da miséria, voltando para a várzea, para a várzea agora do Rio Pinheiros. Aí ela encontrou aquilo que tinha sido abandonado e passou a ter uma situação de convivência forçada entre essas duas dimensões que na história da cidade sempre foram mantidas nitidamente afastadas uma da outra.
A lógica disso é que os prédios vão chegando e a favela acaba indo para outro lugar, ou porque tem um incêndio noturno ou porque algo aconteceu. A lógica é que prevaleça o poder. Agora, não se vai dar gratuitamente. Criou-se uma situação de confrontação e de tensão social que abre uma trincheira, um front direto de conflito social.
São Paulo tem de ser definida a partir da periferia, dessa fímbria onde a parte substantiva da população está alocada. Mas é a área da invisibilidade, a não ser nessa estranha e inesperada interseção que a gente está atravessando agora e onde se sente a tensão no ar com esses seguranças, essas grades, com esses cachorros. Enfim, uma área de vibração muito negativa.
INUNDAÇÕES PROVOCADAS. Nessa situação em que a cidade ficou circunscrita pelo cinturão de miséria, a alternativa foi expandir para cima das várzeas. Aí vem esse paradoxo de a Avenida Luís Carlos Berrini, área principal da especulação, da maior concentração da massa de riqueza e de valorização imobiliária, estar sentada exatamente sobre a várzea desprezada, sobre a área pantanosa e em contato com as populações que historicamente estão lá.
Populações de gente atormentada até recentemente pelo drama das inundações que não eram conseqüência da chuva, mas de uma deliberada maquinação entre a autoridade pública e interesses privados na construção do sistema de usinas de Cubatão, baseado na captação das águas do Tietê pelo Pinheiros, com seu curso invertido por meio das estações de Traição e da Pedreira.
Quando, em algumas circunstâncias, chuvas e outros contextos que não os da cidade provocavam o adensamento das águas, as usinas revertiam o curso do Pinheiros para cima do Tietê e aí ambas as várzeas, tanto do Pinheiros como do Tietê, alagavam.
Portanto, essa era uma das áreas mais desvalorizadas da cidade e, paradoxalmente, agora o avanço da especulação vindo para cá fez com que a autoridade pública fizesse vultosos investimentos para dragar esses pântanos, esses córregos. Por exemplo, fazer aquele tanque de captação de águas na Avenida Água Espraiadas com investimento público, para beneficiar essa área até então completamente ignorada pela gestão pública e apenas agora beneficiada por conta dessa concentração de riqueza.
GOTHAM CITY? TOMARA! Há quem diga que o modelo da arquitetura berriniana é Gotham City. Este é um dos apelidos de Nova York. Infelizmente, essa região não apresenta a competência arquitetônica, urbanística e de planejamento que Nova York tem. Inclusive, porque a sociedade americana se assenta sobre a idéia de que os homens são iguais e que as oportunidades devem ser também iguais. Isso é representado emblematicamente numa arquitetura que simboliza esse esforço pela sobriedade e pela contenção.
Aqui, ao contrário, a idéia é uma liberdade sem travas para a concorrência das aberrações, um tentando provar contra o outro a sua superioridade, o seu poder, a sua proeminência. Mas aqui também nota-se a indefectível presença da fiação aérea, marca registrada da feiúra de São Paulo.
A fiação fez São Paulo parecer uma área de mineração, com a população recém-chegada de uma espécie de corrida do ouro, não deu tempo de fazer a infraestrutura, então tudo é improvisado e pendurado precariamente. Agora, vejamos esses prédios que na porção mais elevada são como que chanfrados. Pretende-se com isso criar uma espécie de sentido de atualização.
O prédio perfeitamente geométrico é uma criação do chamado estilo internacional, que teve uma expansão enorme a partir dos Estados Unidos, sobretudo no pós-guerra, e que marcou uma época. A idéia agora é fazer a mesma coisa, com a mesma geometria, só que dando essas quebras, dando algumas curvas, que signifiquem que é up to date, que não é a reiteração daquela coisa antiga. Mas, na verdade, é apenas um efeito plástico, cosmético, em cima da mesma concepção.
PROJETO TRAÍDO. O Ibirapuera foi um exercício de reconstítuição do espaço qualificado na cidade. Foi desenvolvido no contexto do 4º Centenário de São Paulo, sobretudo com um forte estímulo de Ciccilo Matarazzo, como um parque que não fosse apenas um centro de amenidades e convivência social, mas também um centro de concentração de atividades artísticas, lúdicas, de entretenimento e de cultura e educação.
Um parque multifuncional, totalmente destinado à população e ao conforto urbano e que foi progressivamente sendo tomado pelas autoridades públicas para os seus fins próprios, para instalar suas burocracias. O que era da população foi tornando-se cada vez mais uma extensão das próprias instalações e necessidades da burocracia administrativa.
A associação de Ciccilo Matarazzo com Oscar Niemeyer tinha o objetivo de dar ao parque um sentido cívico. Daí as esculturas de Brecheret, em particular o Monumento aos Bandeirantes, a presença do Obelisco. O projeto inicial é muito ambicioso e muito afortunado. O destino que ele teve progressivamente é que foi tendendo, como é comum nesta cidade, a descaracterizar o sentido original. Não nasceu assim, mas tornou-se um emblema de i desigualdade.
ESPERANÇA. Ainda há salvação? Acho que sim. É só São Paulo resgatar sua memória, seu projeto histórico, o que ela significou para essa população que fez dela, em tão pouco tempo, um marco metropolitano em escala mundial. Gente que vem de todas as partes do Brasil, de todas as partes do mundo, percebendo em São Paulo essa perspectiva de promoção social, de progressiva participação no processo decisório e numa gestão capaz de representar a criação de uma sociedade cada vez mais distributiva, multicultural, tolerante e promissora de um padrão de democracia moderna.
Esse é o projeto embutido em São Paulo. É o valor que está incrustado na memória histórica. É importante para trazer de volta à tona esse sonho, essa perspectiva, essa expectativa e fazer com que ela seja o sopro que anima a população a reformular todo o extraordinário equívoco que, a partir dos anos 30, entregou essa cidade à sanha dos automóveis, dos fluxos de trânsito e da especulação selvagem.
Como chegar lá? A intermediação tem de se dar mediante a constituição de uma autoridade pública que reassuma o compromisso com esse projeto histórico e com as ansiedades e expectativas da população. Portanto, a reversão do quadro, se houver, terá de ser uma reversão política.
Hoje, as autoridades metropolitanas estão afundadas num pântano de práticas criminosas, prejudiciais aos interesses da população, em especial a população mais carente. Uma perversão absoluta do sentido de autoridade pública: uma autoridade que, em vez de servir ao público, explora o público e, em vez de compensar as diferenças sociais, agrava ainda mais o quadro de profunda injustiça.
Mas, eu acredito que, se houver uma administração bem-sucedida, ao desencadear esse espírito de revalorização da comunidade, de pensar a cidade a partir dos interesses locais, das necessidades mais prementes, envolvendo a população num projeto de consultas e de interlocução mais concreta entre a autoridade e os cidadãos, se criaria um outro compromisso, uma outra articulação pendente a um efeito multiplicativo.
EXEMPLO AMERICANO. É isso que se sente em boa parte das cidades dos Estados Unidos, que tiveram os seus destinos mudados durante os anos 80 com a adoção de políticas de valorização da gestão comunitária, pelo qual comunidades se tornam co-responsáveis na administração das escolas, das áreas públicas, dos parques para prover esportes, lazer, atividades culturais e educativas para os jovens.
A prefeitura fica como uma co-gestora, dando os insumos necessários, mas a iniciativa vem da população, a iniciativa vem de baixo. Esse espírito contamina e se difunde de maneira mais ampla pela cidade. Assim como as cidades americanas conseguiram reconstituir o seu tecido social e urbano, sobretudo a partir das áreas mais degradadas, dos guetos, dos bolsões de pobreza, eu creio que é exatamente por aí que se deveria conduzir o processo aqui.