

Da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ao Camboja, passando pela China e pela Coréia do Norte, o terror vermelho fez milhões de vítimas no mundo. À frente desse saldo tétrico, cuja contabilidade ainda está sujeita a correções e atualizações, destacam-se três pessoas que passaram para a História pelos crimes que cometeram contra a humanidade: Mao Tsé-tung, na China, Josef Stalin, na ex-União Soviética, e Pol Pot, no Camboja. Esses personagens e a truculência de seus regimes estão retratados, não sem polêmica, no "Livro Negro do Comunismo", lançado recentemente na França por um grupo de historiadores. A revista francesa L'Express reuniu e publicou uma série de artigos escritos especialmente por alguns desses pesquisadores. O Caderno2 Especial traz neste domingo uma síntese desses instigantes trabalhos.
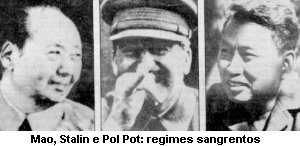
L'express
Tradução de Lauro Machado Coelho e Lea Passalacqua
Da URSS ao Camboja, passando pela China e a Coréia do Norte, o terror vermelho fez cerca de 85 milhões de vítimas. Pela primeira vez, e não sem criar polêmica, historiadores publicam "O Livro Negro do Comunismo".
O prefácio de O Livro Negro do Comunismo deveria ter sido escrito por François Furet, que morreu em julho. Ele considerava que este livro era o complemento de seu O Passado de uma Ilusão, no qual analisava a paixão política que levou tantos homens a cometer tantos massacres, muitas vezes antes de serem eles mesmos triturados pelo sistema a que tinham servido. Talvez a presença desse grande historiador tivesse evitado que esse empreendimento inédito terminasse em confusão: no fim de três anos de trabalho, o editor conseguiu lançar o livro por ocasião do 80º aniversário da Revolução de Outubro de 1917, mas seus autores, divididos, não se falam mais, antecipando as polêmicas que não vão deixar de surgir. Pois é uma outra memória, ainda tabu, que "O Livro Negro" ataca, propondo o primeiro balanço, em escala mundial, dos crimes cometidos pelo regime mundial. Contabilidade aterrorizadora: as diversa tentativas de construção do "homem novo" provocara, pelo mundo afora, a morte de 65 a 85 milhões de pessoas.
Sob a direção de Stéphane Courtois, uma dezena de historiadores dividiu a tarefa segundo as suas competências regionais. A contribuição de Nicolas Werth sobre a URSS, que ocupa cerca de um terço da obra, constitui um subsídio importante para a história da repressão soviética. Conhecedor de russo e familiarizado com os arquivos locais e dos trabalhos da nova geração de historiadores russos, Nicolas Werth realizou uma síntese espantosa dos métodos que serviram de modelo no mundo inteiro. A partir dos arquivos do período 1917-1921, mostra que o exercício do "terror como forma de governo" foi concebido bem antes da guerra civil e não foi uma conseqüência dela: o impulso criminoso, muito precoce, remonta a Lenin. Stalin limitou-se a retomar a herança da ditadura, declarando guerra a toda a sociedade.
O balanço soviético (cerca de 15 milhões de mortos) foi amplamente ultrapassado pela China de Mao Tsetung. O número de vítimas oscila entre 45 e 72 milhões de mortos. O maoísmo acrescenta a isso a particularidade de ter querido "reeducar uma sociedade inteira". Mas o primeiro prêmio da loucura sanguinária vai para o Khmer Vermelho que, de 1975 a 1979, eliminou de 1,3 a 2,3 milhões de pessoas no Camboja, que tinha uma população de 7,5 milhões.
A soma que "O Livro Negro" se propõe a fazer prossegue com o Leste europeu (Karel Bartosek), a Coréia do Norte (Pierre Rigoulot), e a África (Yves Santamaria), a América Latina (Pascal Fontaine), sem esquecer o Komintern (Jean-Louis Panné e Stéphane Courtois), estrutura internacional paramilitar dirigida por Moscou que, durante a Guerra Civil Espanhola, assassinou uma porção de membros das Brigadas Internacionais que "não andavam na linha".
Os autores do "Livro Negro" não se dividiram quanto ao fato de que, no Ocidente, e especialmente na França, tenta-se atenuar a importância dos crimes do comunismo, "que não foram submetidos a uma avaliação legítima e normal tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista moral", como diz Stéphane Courtois. Exemplos não faltam: no verão passado, foi descoberto, numa floresta da Carélia, um ossuário dos tempos de Stalin com nove mil vítimas. A imprensa francesa não disse uma só palavra a respeito. Os historiadores não se dividiram tampouco quanto ao uso que a Frente Nacional, de extrema-direita, que anda exigindo um "Nuremberg do comunismo", não deixaria de fazer do seu trabalho. Na maioria ex-comunistas, ex-maoístas ou ex-trotskistas, os autores do "Livro Negro", que continuam afirmando ser de esquerda, concordam com Stéphane Courtois que "não se deve deixar a uma extrema-direita cada vez mais presente o privilégio de dizer a verdade: é em nome dos valores democráticos, e não dos ideais nacionalistas fascistas, que se deve analisar e condenar os crimes do comunismo".
Contra a Humanidade - O conflito deles é mais profundo. E mais interessante. Refere-se à interpretação da noção de "crime". Trata-se de "crimes comunistas" ou de "crimes do comunismo". Pode-se falar de "crime contra a Humanidade"? A redação inicial da introdução e da conclusão, tal como Courtois a fez, irritou Werth, Margolin e Bartosek, redatores dos capítulos essenciais. O conflito foi violento: retenção dos manuscritos, nomeação de advogados, intimações entregues por oficiais de justiça, ameaças de processo...
Stéphane Courtois modificou muito os seus textos, mas o conteúdo da obra reflete ainda essas polêmicas. Textos puramente históricos, com todos os escrúpulos científicos costumeiros (os de Werth sobre a URSS são um modelo do gênero), surgem lado a lado com análises críticas ou que pedem abertamente a condenação dos crimes. Num texto que já não é mais uma conclusão, pois intitula-se "Por quê?", Courtois pergunta que mistério levou "militantes comprometidos com uma lógica de combate político a trocá-la pela lógica da exclusão, depois pela lógica eliminacionista e, finalmente, pela exterminação pura e simples de todos os elementos impuros. No extremo final dessa lógica, o que há é o crime contra a humanidade."Todos os termos do debate estão assim resumidos. Os crimes em questão, maciços, figuram entre os auges do horror neste século, mas pode-se dizer, por causa disso, que o "crime de massa" constitui o denominador comum e até mesmo a essência do comunismo? A ausência de liberdade e a repressão quotidiana parecem ser critérios mais universais do comunismo do que o "crime de massa", ausente de vários Estados.
Quanto à aplicação da noção de crime contra a humanidade, a discussão parece sofrer com o viés da fazer com que os crimes do comunismo se encaixem, custe o que custar, na definição de Nuremberg. Não foram julgados e Stéphane Courtois gostaria que o fossem: "A morte do filho de um kulak ucraniano, reduzido à fome pelo regime stalinista, vale a mesma coisa que a morte de uma criança judia do gueto de Varsóvia, reduzida à fome pelo regime nazista." Está aqui o outro tema de controvérsia: a comparação com os crimes do nazismo, já esboçada por François Furet. "A remodelagem dessas duas sociedades foi concebida da mesma maneira, ainda que os critérios de exclusão não fossem os mesmos", escreve Stéphane Courtois. Essa comparação é legítima, mas deve ser encarada com cuidado. Deve aproximar - porque as perdas humanas rivalizam em termos de horror - mas também distinguir. Os dois projetos se apresentam de forma diferente: de um lado, ideologia racionalista e universalista; do outro, revolução baseada na exaltação do instinto e da raça em proveito de um único povo. Mas não há dúvida alguma que a eliminação, na URSS, de certas camadas sociais (inclusive mulheres e crianças) enquanto classe hereditária, não perde nada para os crimes nazistas. Da mesma forma, parece legítimo falar de "genocídio" a respeito do Khmer Vermelho.
Dois totalitarismos - No entanto, essa vontade de equivalência semântica não é historicamente redutora? Pois, se se pode discutir interminavelmente a comparação entre nazismo e comunismo e a amplitude respectiva das desgraças que ambos provocaram (25 milhões de vítimas em 12 anos de nazismo; mais de 65 milhões em 80 anos de comunismo), não é possível assimilar um ao outro. A começar pelo fato de que o nazismo possui uma característica única: a negação de humanidade que resulta no empreendimento de destruir populações inteiras. Singularidade à qual estão ligadas outras práticas que não têm equivalente nos regimes comunistas: a esterilização em massa, o assassinato dos deficientes físicos e dos doentes mentais, as experiências científicas mortais com cobaias humanas.
Em compensação, uma diferença entre esses dois totalitarismos sangrentos parece ilegítima: a sua condenação desigual na Europa ocidental. Várias razões objetivas explicam essa dissimetria: não passamos pela experiência de uma ocupação soviética; a URSS participou, com os aliados, da queda do nazismo; e os militantes comunistas lutaram, a partir de junho de 1941, ao lado da Resistência européia. Acrescentemos a isso o gosto um tanto frívolo pela idéia de revolução, que François Furet já tinha diagnosticado, e acaba de ser ilustrado, uma vez mais, pela "guevaromania", embora o "Che", muito chegado num campo de trabalho forçado e num "paredón", não fosse exatamente uma personagem da Disneylândia.
Muitos militantes e intelectuais cantaram os méritos de Stalin e Mao. Muitos deles chegam a afirmar que "eles não sabiam". Ignorância cúmplice e cegueira culpada: nas décadas de 50 e 60, os crimes tornaram-se incontestáveis. Um intelectual comunista, professor universitário de história, podia ainda escrever, em 1978, que o regime leninista "foi, talvez, um dos governos revolucionários da História que mais se preocupou em poupar vidas" e que os seus primeiros anos "fizeram com que a sociedade russa desse, de maneira irreversível, um considerável salto para a frente no plano das liberdades reais e formais".
Hoje, ninguém mais defende o stalinismo, nem o maoísmo, nem essa "crueldade necessária" com a qual brilhavam "os olhos azuis da Revolução", como dizia o poeta francês Aragon.
O PC francês, os seus companheiros de viagem e os ex-esquerdistas romperam com o passado. Mas sem pensar nele. Sem se explicar. Nesta temporada dos arrependimentos, há, deste lado de cá, muitas oportunidades que se estão perdendo. (E.C.)
URSS: Os grandes ciclos do terror vermelho
NICOLAS WERTH
L'Express
De 1917 a 1953, a repressão atingiu ora os camponeses, ora os judeus e os oposicionistas. Na improvisação e no caos. Na imagem acima, vítimas da onda de fome que, entre 1921 e 1922, devastou populações que viviam ao longo do Volga.
De uns dez anos para cá, tanto no Ocidente quanto na Rússia, a abertura ainda que parcial dos arquivos fez com se abrissem vastos canteiros de obra de pesquisa. A primeira tarefa, ingrata e demorada, foi enumerar as fontes, reconstituir a trama, verificar as hipóteses formuladas por uma imensa produção de "sovietologia" sem arquivos, que se acumulara durante anos. Assim foi que, nestes últimos anos, um certo número de pesquisadores divulgou, geralmente em revistas russas de circulação confidencial, informações fundamentais que serviram de base a todos os estudos recentes ou em andamento. Vários campos foram privilegiados, em especial o universo concentracionário - ou, mais exatamente, os diversos universos concentracionários, a confrontação entre o poder bolchevique e o campesinato, os mecanismos de tomada de decisão na cúpula, o encaminhamento e a aplicação dessas decisões. Verdadeiras montanhas de documentos estão sendo, há alguns anos, sistematicamente exploradas: correspondência das elites, relatórios da Tcheka e do Exército Vermelho sobre a "pacificação" do campo entre 1918 e 1922, relatórios da GPU sobre a "deskulakização", documentos internos sobre a administração dos Gulags, relatórios apresentados por funcionários de escalões locais do poder.
Baseando-me nessas pesquisas, tentei reconstituir, a partir de 1917, o desenrolar dos principais ciclos de violência e repressão que marcaram a história da URSS. Essa reconstituição, evidentemente, não tem a pretensão de apresentar "revelações" sobre o exercício da violência do Estado na URSS de 1917 a 1953. Esse aspecto específico do problema já vem sendo há muito tempo explorado pelos historiadores, que não esperaram a abertura dos arquivos para reconstituir as principais seqüências e a amplitude do terror.
Um primeiro ciclo, do fim de 1917 ao fim de 1922, inscreve-se num contexto de "brutalização" geral das relações sociais, iniciado bem antes de outubro de 1917, do qual a revolução camponesa do outono de 1917 foi um elemento central. Desenvolve-se, desde a primavera de 1918, uma ofensiva deliberada contra o campesinato que, independentemente das confrontações militares entre "vermelhos" e "brancos", será, durante várias décadas, o modelo das práticas de violência política e condicionará a impopularidade assumida do poder bolchevique. Esse primeiro ciclo não se interrompe nem com a derrota dos "brancos" e nem com a Nova Política Econômica (NEP) de Lenin. Prolonga-se numa dinâmica mantida por uma base habituada à violência e só pára com a epidemia de fome de 1922, pois esta aniquila de vez com as últimas resistências camponesas.
Depois da curta pausa que, de 1923 a 1927, interrompe dois ciclos de violência e, pela sua própria brevidade, parece mais uma trégua do que uma verdadeira alternativa, inicia-se um segundo ciclo de repressão e de violência. De ambas as partes, essa ressurgência é sentida como um recomeço. O poder político reata com as práticas experimentadas alguns anos antes. Essa segunda guerra contra o campesinato é decisiva no processo de institucionalização do terror: inaugura o sistema das deportações de massa e é com ela que se formam os quadros políticos do regime. Enfim, instituindo uma colheita predatória nas fazendas coletivas, que desorganiza o conjunto do ciclo produtivo, abre o caminho à experiência extrema: a epidemia de fome de 1933 que, sozinha, ocupa o papel mais importante no balanço das vítimas do período stalinista.
A partir dessa experiência central, como se encaixam e se articulam as diferentes seqüências repressivas durante as décadas de 30 e 40? Cada uma delas tem seus aspectos específicos, sua intensidade e seus grupos de vítimas. O tempo do "grande terror" concentra, em menos de dois anos, mais de 85% das condenações à morte pronunciadas pelos tribunais de exceção durante todo o período stalinista. A partir de 1940, no contexto da sovietização dos novos territórios anexados e, depois, da "Grande Guerra Patriótica" (o nome que, na Rússia, dá-se à 2ª Guerra Mundial), inicia-se nova seqüência de repressão, marcada ao mesmo tempo pela designação de novos grupos de vítimas, "nacionalistas" e "povos inimigos", e pela sistematização das deportações maciças que, desafiando as urgências vitais de defesa de um país ameaçado de aniquilamento, obedecem a uma lógica autônoma.
Paralelamente, ao sair da guerra, assiste-se a um novo endurecimento da penalização dos comportamentos sociais, que tem como conseqüência o ininterrupto crescimento dos gulags. Esse período de pós-guerra marca, portanto, o apogeu numérico dos gulags, mas também o início da crise do universo concentracionário, hiperatrofiado, afligido por múltiplas tensões e com uma rentabilidade econômica cada vez mais problemática. Enfim, os últimos anos do ciclo stalinista, ainda muito mal conhecidos, são testemunhas das derivas específicas desse período: contra um fundo de reativação de um anti-semitismo latente, o retorno da paranóia da conspiração põe em cena a rivalidade de forças mal identificadas - clãs dentro da polícia política ou das organizações regionais do Partido.
Ao longo desses diferentes ciclos, coloca-se um certo número de questões clássicas sobre os elementos de continuidade e ruptura entre o primeiro ciclo "leninista" e o segundo ciclo "stalinista", e sobre os encadeamentos entre as diversas seqüências do grande ciclo "stalinista".
Os arquivos do gulag, completados pelos documentos de outras administrações judiciárias, e com a intersecção parcial de estatísticas demográficas, permitem analisar com precisão, hoje, a população concentracionária, distinguindo as suas diversas categorias. Esse balanço mostra que o número dos detidos (de 2 a 2,7 milhões, em média anual, do fim da década de 30 ao início da de 50) era muito inferior às estimativas (de 9 a 12 milhões ao todo) que já foram feitas por muitos historiadores ou pelos memorialistas russos.
"Segundo gulag" - Paralelamente, as pesquisas recentes evidenciaram as particularidades de um verdadeiro "segundo gulag" (de 1,3 a 2,7 milhões, em média anual, de meados da década de 30 até o início da de 50), composta de "deslocados especiais" e de "colonos trabalhadores", deportados coletivamente, designados para residir em uma "aldeia de povoamento", "alugados", sob contrato, a empresas estatais, administrados por um "Kommandantur" da GPU ou da NKVD. O estudo desses "deslocados especiais" fornece informações especialmente ricas sobre as fronteiras entre o universo livre e o universo não-livre de uma sociedade marcada pela exclusão de grupos inteiros dentro da população.
Além de nos fazer ter um melhor conhecimento dos números, das diferentes categorias de proscritos e da evolução dos contingentes, as pesquisas em andamento colocam uma série de perguntas. Os fluxos maciços de detentos contribuíam para melhorar a eficiência do sistema? Em que medida o afluxo, depois da guerra, dos detentos provenientes dos territórios recém-anexados à URSS precipitou a crise dos gulags? Qual foi o papel econômico dos gulags?
Essas pesquisas nos remetem à questão central da existência ou não de um desígnio destinado a pôr a exclusão em prática, de forma durável, como um instrumento permanente dentro do projeto de transformação econômica e social, a partir do final da década de 20. O "planejamento" do terror, tal como se manifesta na política de "quotas" (proporção de camponeses a serem deportados), a partir da "deskulakização" até o "Grande Terror" stalinista, pode ser interpretado como uma das expressões desse desígnio. Operações minuciosamente programadas, balanços numerados e regulares parecem atestar o perfeito controle, por parte dos dirigentes, do processo deliberado de repressão de determinados grupos.
No entanto, uma reconstituição da correia de transmissão das ordens e da maneira como elas são postas em prática desmente, de várias maneiras, a idéia de que havia um processo bem controlado. Se se aborda a questão do planejamento repressivo, constata-se numerosos desvios e falhas recorrentes nas diversas fases da operação. Desse ponto de vista, um dos exemplos mais fascinantes é o da deportação sem destino dos "kulaks", que dá a medida da improvisação e do caos reinantes. Da mesma forma, as "campanhas de esvaziamento" das prisões ou as anistias seletivas, que se seguem a ondas violentas de repressão fazem com que nos interroguemos sobre o papel da improvisação e dos efeitos de encadeamento mal controlados. O acesso à massa de documentos que reflete "a situação na base" permite-nos assestar melhor o foco sobre uma questão central: a correia de transmissão das ordens e a maneira como elas eram cumpridas. Num Estado de não-direito, a existêcia de instituições extra-judiciárias favorecia uma ampla autonomia dos executantes locais, membros dos "comitês de reabastecimento", das "brigadas de deskulakização" ou da Tcheka local. Os hábitos contraídos durante a guerra civil continuam, no interior do país, muito tempo depois de já ter sido instaurada a NEP. Em 1937, considerando necessário agir "com todo o zelo", os funcionários locais do NKVD antecipam as quotas de vítimas exigidas pelo poder central, fazendo assim com que se desenvolva uma verdadeira espiral do terror. A ausência de controle entre os diferentes extremos da cadeia é uma outra característica importante das grandes operações repressivas, como a "deskulakização". A precipitação, o caos, a falta do senso de medida, a antecipação da violência por excesso de zelo são uma dimensão essencial das formas de violência, de repressão e de terror na URSS stalinista.
Zonas de sombra - O fenômeno central do terror, na história política e social da URSS, coloca hoje questões cada vez mais complexas. As pesquisas atuais orientam-se cada vez mais para a análise da dinâmica da violência. Ainda há zonas de sombra muito numerosas e a mais importante delas é a dos comportamentos sociais em jogo no exercício da violência. Quem eram os executantes, os agentes do NKVD ou os membros das brigadas de deskulakização ou dos destacamentos de confisco? Já que estamos começando a conhecer melhor as vítimas, é preciso continuar a interrogar o conjunto da sociedade, que foi vítima mas também responsável por tudo o que aconteceu.
Boa colheita foi garantida com seqüestro |
"Falta vagão para deportar os cossacos" |
| A primavera de 1933 marcou o apogeu de um primeiro grande ciclo de terror que tinha começado no fim de 1929, com a campanha de deskulakização. As autoridades enfrentaram problemas inéditos: como garantir a colheita futura em regiões devastadas pela fome? As autoridades responderam, da maneira mais drástica, organizando imensas batidas na população urbana, enviada para os campos de trabalho pela força das armas. "A mobilização das forças citadinas", escrevia, em 20 de julho de 1933, o cônsul italiano de Kharkov, "tomou proporções enormes (...) Esta semana, 20 mil pessoas foram enviadas diariamente para o campo (...) Anteontem, cercaram o mercado, prenderam todos os homens válidos, mulheres, adolescentes e levaram-nos para a estação, escoltados pela GPU, e mandaram- nos para o campo." A chegada maciça desses habitantes da cidade no campo, onde havia fome, criou novas tensões. Os camponeses incendiavam as barracas dos "mobilizados", avisados para não se aventurar por aldeias "povoadas por canibais". Graças às boas condições meteorológicas, à mobilização da mão-de-obra citadina, ao instinto de sobrevivência dos fugitivos que, para não morrer de fome, trabalhavam em terras que não lhes pertenciam, as regiões atingidas pela fome de 1932-33 deram, no outono de 1933, uma boa colheita. (N.W.)
|
Um dos métodos mais drásticos contra
os cossacos (camponeses que, sob o czarismo, tinham sido privilegiados) era
destruir suas aldeias e deportar os sobreviventes. O arquivo de Sergo Ordjonikidze, um dos
principais dirigentes bolcheviques, na época presidente do Comitê Revolucionário do
Norte do Cáucaso, conservam documentos de uma dessas operações que se desenvolveram do
fim de outubro até meados de novembro de 1920. Um relatório endereçado a Ordjonikidze assim descrevia o desenrolar das operações: "Kalinóvskaia, aldeia inteiramente queimada, toda a população (4.220) deportada ou expulsa. Ennolóvskaia: todos os habitantes (3.218) retirados. Romanóvskaia: 1.600 deportados; ainda é necessário deportar 1.661. Sámatchinskaia: 1.018 deportados; 1.900 por deportar. Milhailóvskaia: 600 deportados; 2.200 por deportar. Além disso, 154 vagões com alimentos confiscados foram enviados para Groznyi (na Chechênia). Nas três aldeias onde a deportação ainda não terminou, entre os que ainda não foram deportados, figuram simpatizantes do regime soviético, das famílias de soldados do Exército Vermelho, funcionários e comunistas. A operação de deportação se atrasou por falta de vagões. Estamos recebendo um único vagão por dia, em média. Para terminar as operações de deportação, pedimos com urgência 306 vagões suplementares." (N.W.)
|
| Na Polônia, bala na nuca era a rotina Em 23 de agosto de 1939, nazistas e soviéticos assinaram o seu célebre "pacto", cujos protocolos secretos previam a partilha da Polônia. Com a vitória soviético-nazista, a Polônia haveria de conhecer as horas mais sombrias de sua história, inauguradas pela colaboração estreita entre a Gestapo e a NKVD. Os soviéticos deportaram várias centenas de milhares de poloneses, tanto judeus quanto católicos, para os campos do Grande Norte ou do Cazaquistão. Engenheiros, médicos e professores foram executados com uma bala na nuca. Os massacres de Katyn, Ostáshkov e Staróbielsk (14.587 vítimas), friamente realizados, não são crimes de guerra: são crimes contra a Humanidade. Durante mais de 50 anos, os soviéticos e todos os Partidos Comunistas mentiram deliberadamente sobre esses crimes, tentando atribuí-lo aos alemães, inclusive durante o processo de Nuremberg. A descoberta, em abril de 1943, da vala comum de Katyn, é uma das guinadas na 2ª Guerra Mundial. O governo legal de Londres e a resistência democrática interna não podiam mais ter ilusões sobre as intenções de Stalin. (Jean-Louis Panné) |
Cambojanos - "purificados" pelo assassinato em massa
Mais de 1 milhão de cambojanos, "intelectuais" ou "burgueses" foram exterminados pela loucura de Pol Pot
JEAN-LOUIS MARGOLIN
L'Express
O reinado de Pol Pot e de seus khmers vermelhos (1975-1979) foi uma experiência limite. Só no Camboja um comunismo fundiu-se a esse ponto com suas práticas repressivas e estas assumiram a forma de assassinato em massa. Encontram-se, entretanto, como aumentadas de volume, muitas das características verificadas em outros comunismos, e muito particularmente na China. A guerra popular maoísta preconizou assim o "cerco das cidades pelos campos", dizimou muito particularmente a população das primeiras e a Revolução Cultural terminou com o envio forçado para os campos de uma quinzena de milhões de jovens urbanos, principalmente estudantes.
No Camboja, as cidades, começando por Phnom Penh, a capital, foram em uma semana riscadas do mapa e quase metade da população do país (entre os quais numerosos refugiados vindos das aldeias atingidas pela guerra de 1970-1975) foi atirada às ruas, sem ajuda nem organização. Tiveram de integrar-se em tipos de comunas populares, em que tudo era coletivizado, com exceção de uma colher e uma tigela por pessoa (era formalmente proibido cozinhar ou procurar individualmente o que comer), e matar-se de trabalhar em enormes instalações de irrigação ou de arroteamento, enquanto as colheitas pereciam. Daí, rapidamente, penúrias alimentares permanentes, que levaram, sem dúvida, 1 cambojano em 10.
Como sob Mao, os intelectuais (as pessoas eram frequentemente classificadas como tais no Camboja, desde que soubessem ler e escrever correntemente) eram considerados uma "categoria vil", perigosa por suas pretensões a uma perícia por natureza apolítica: mas o Timoneiro de Pequim compreendia que não podia passar sem eles se quisesse desenvolver o país. No Camboja, em que todo sistema escolar digno desse nome havia desaparecido, eles eram todos obrigados ao trabalho manual mais embrutecedor e, com frequência escolhidos para serem assassinados, assim como o conjunto dos funcionários e dos militares do regime precedente; e, no entanto, a direção do Partido Comunista Khmer (PCK) era quase inteiramente composta de antigos estudantes e professores...
Rurais versus urbanos - O próprio corte radical efetuado entre "povo antigo" (os rurais, cedo controlados pelos Khmers Vermelhos) e "povo novo" (os vencidos de 1975, essencialmente urbanos) lembra a distinção maoísta entre "categorias vermelhas" e "categorias negras". Mas estas últimas, na China, representavam talvez 1 habitante em 5. No Camboja, é cerca de 1 em 2. Além disso, Mao só condenava uma minoria dos "negros" à prisão ou à morte; a maioria podia ser "reeducada" e utilizada. Pol Pot mergulha a totalidade dos "novos" em uma atmosfera concentracionista: separação física total dos "antigos"; promiscuidade e precariedade do habitat combinadas com um emprego do tempo extenuante (trabalho e reuniões políticas absorvem correntemente 16 horas por dia) para não deixar nenhuma trégua ao indivíduo; discriminação alimentar sistemática (todos estão sem cessar obcecados pela fome); vontade de partir qualquer laço familiar, ou apenas de afeto, pela retirada das crianças de seus pais desde 6 ou 7 anos, pela dispersão permanente do lar entre múltiplas "brigadas de trabalho", igualmente pela interdição de qualquer ajuda mútua "privada" e até mesmo de qualquer rito funerário; novas deportações, reiteradas às vezes por diversas vezes, desestabilizando um pouco mais os "novos" e com frequência mortais para os mais fracos. Seu freqüente envio para selvas insalubres a serem arroteadas, sem a mínima proteção contra o impaludismo e a desinteria, enquanto seus organismos estavam enfraquecidos pelo esgotamento e pela sub-alimentação, foi fonte de verdadeiras hecatombes.
Quanto à repressão, esta é impiedosa para todos, inclusive aos funcionários do regime, dizimados pelos expurgos. As prisões de Mao foram severas, mas os detidos eram alimentados um pouco e ao menos tinham liberdade para trabalhar. No Camboja, são apenas centros de tortura e morte, em que o regime de carestia, o acorrentamento permanente e a ausência total de higiene e de cuidados só deixam ao preso uma esperança de vida média de três meses. Nenhum regime neste século generalizou sem dúvida até esse ponto a pena de morte (seja imediata, geralmente por fratura do crânio, seja adiada pelo envio para a prisão), inclusive para os "delitos" mais veniais: recolhimento de três bananas em um campo, visita clandestina à própria família, ausência momentânea de trabalho, consumo de álcool, relações sexuais fora do casamento, práticas religiosas abertas, recusa de consumo de carne de porco para os muçulmanos e, certamente, qualquer expressão da mínima resistência às ordens e do mínimo descontentamento (apenas dizer que não se come o suficiente para matar a fome ou mesmo chorar por uma criança morta)... Cerca de 1 milhão de cambojanos (em 7) morreram assim assassinados, inclusive numerosas crianças, mulheres grávidas, anciãos e a maior parte das crianças doentes mentais e mutiladas.
Houve, portanto, sem contestação, no Camboja dirigido pelo PCK, inúmeros crimes contra a humanidade, sem medida comum com a repressão, certamente severa, dos regimes precedentes, nem mesmo com uma guerra, no entanto às vezes atroz, devido ao fato particular dos "tapetes de bombas" derrubados pelos B-52 americanos. Além disso, não podemos deixar de perguntar sobre a qualificação de genocídio. Não se verifica, sem dúvida, nenhum projeto de extermínio global da nação cambodgeana por seus próprios dirigentes e as minorias étnicas não foram forçosamente mais maltratadas do que a maioria khmer. Mas os Khmers Vermelhos não levam até o fim uma lógica de "racialização" de camadas sociais ou de grupos políticos inteiros, lógica já presente nos outros países comunistas e particularmente na China de Mao? Um filho de "capitalista", mesmo falido, é um capitalista, por herança, e tratado como tal: as famílias, sob Pol Pot, são com frequência cada vez maior arrastadas inteiras para o extermínio. Afinal de contas, a "raça burguesa" não é da mesma forma um fantasma da "raça judia"? Podemos, portanto, considerar que a liquidação sob Pol Pot da metade ou mais dos funcionários, dos intelectuais, dos empresários ou até mesmo dos habitantes de Phnom Penh constitue um caso de genocídio.
Número de vítimas no Camboja |
|
Execuções, mortes na prisão: |
de 500 mil a 1 milhão |
Mortos de fome ou de doença (resultante do envio em zona insalubre sem proteção medicamentosa): |
de 700 mil a 900 mil. |
Mortos durante a deportação ou por esgotamento no trabalho: |
de 100 mil a 400 mil. |
Total: |
1,3 a 2,3 milhões (em uma população de cerca de 7,5 milhões de pessoas em 1975). |
Mortos por viver próximo ao Vietnã Depois de eliminar os dirigentes da zona leste, vizinha do Vietnã, agora hostil, o Centro polpotista condenou à morte esses "vietnamitas em corpos khmers" que teriam sido os habitantes do Leste. De maio a dezembro de 1978, entre 100 mil e 250 mil pessoas (em 1,7 milhões de habitantes) foram massacradas - começando pelos jovens e pelos militantes - entre os quais, por exemplo, a totalidade das 120 famílias (700 pessoas) da aldeia de Sao Phim; em outra aldeia, contam-se 7 que escaparam para 15 famílias, 12 das quais desapareceram totalmente. A partir de julho, os sobreviventes são deportados de caminhão, de trem, de barco, para outras zonas, onde são destinados a ser progressivamente exterminados (milhares já foram assassinados durante o transporte): dessa forma, são vestidos com trajes azuis (encomendados na China, por cargas especiais), enquanto o "uniforme" sob Pol Pot deve ser preto. E, progressivamente, sem fazer muito ruído, geralmente fora da vista dos outros aldeões, os "azuis" desaparecem; nas cooperativas no noroeste, apenas uns cem, em 3 mil, ainda estavam vivos quando da chegada do exército vietnamita, em janeiro de 1979, que suspendeu os massacres. Essas atrocidades marcam um triplo ponto de inflexão, na véspera do desmoronamento do regime: as mulheres, as crianças, os velhos são massacrados, assim como os homens adultos; os "antigos" são mortos como os "novos"; enfim, sobrecarregados com sua tarefa, os Khmers Vermelhos impõem às vezes à população que os ajude. A "revolução" tornava-se realmente loucura e ameaçava agora submergir até o último cambojano. |
Komintern: cúmplice e depois vítima da repressão
Criada por Lenin, esta organização causou a luta armada e elaborou listas negras antes de ser "expurgada" por sua vez
STÉPHANE COURTOIS
L'Express
Desde 1919, Lenin, que sonhava levar a revolução ao mundo inteiro, criou a organização da revolução mundial, a III Internacional, também chamada de Internacional Comunista ou Komintern. Durante o verão de 1920, realizou-se em Moscou o II Congresso do Komintern, durante o qual foram editadas as 21 condições de adesão. A terceira condição justificava "em teoria" a violência que devia ser preparada e praticada pelos partidos comunistas. Nesse anos 20, todos os partidos comunistas foram levados a criar dentro de si um "aparelho militar" muito secreto, encarregado ao mesmo tempo do serviço de ordem do partido e da preparação de grupos para-militares. Em 1931, o Komintern publicou um manual de luta armada e de guerra civil, entitulado A Insurreição Armada e supervisionado pelos generais do Exército Vermelho. Todas as experiências insurrecionais comunistas realizadas desde 1917 alí estavam expostas e analisadas. Esse livro foi ainda publicado na França, no início de 1934. Esses "aparelhos militares" estavam, evidentemente, ligados aos serviços secretos do Komintern e da URSS e, às vezes, misturados às ações sangrentas destes últimos (como no caso do sequestro em Paris e do assassinato, em 1929, do chefe dos emigrados russos, o general Kutiepov, efetuado com a ajuda de comunistas franceses).
A Espanha foi um terreno de manobras ideal para o Komintern e para o NKVD soviético. Por ordem de Stalin, o Komintern envolveu-se a fundo na guerra civil que se perfilava desde a primavera de 1936 e que se cristalizou a partir de 17 de julho com a rebelião militar de Franco. Graças à criação das Brigadas internacionais -- sob controle completo de Moscou -- e à infiltração no mais alto nível dos conselheiros soviéticos, os comunistas controlaram progressivamente a organização militar da República. Simultaneamente, o NKVD, sob coberturas diversas e com a cumplicidade dos comunistas espanhóis, infiltrou-se nos serviços de polícia e de repressão, o que lhe permitiu, no início de maio de 1937, em Barcelona, lançar uma ofensiva repressiva de grande envergadura contra todas as formações de esquerda não comunistas -- anarquistas, trotskistas, marxistas -- que fez centenas de vítimas em uma verdadeira guerra de ruas. Tchekas secretos prenderam, interrogaram, torturaram e liquidaram centenas de anti-fascistas que haviam cometido o erro de contestar a hegemonia da qual os comunistas tentavam se apoderar.
Repressão em todos os azimutes - Entretanto, os próprios comunistas foram, em breve, vítimas da máquina de repressão soviética. A partir de 1935 e, principalmente, em 1937 -- no momento do "grande terror"-- o aparelho central do Komintern foi expurgado: em um total de cerca de 500 membros de sua organização central, baseada em Moscou, no mínimo 133 foram assassinados. O ex-número 2 do Komintern, encarregado desde 1920 de todo o aparelho clandestino e afastado em 1935, Ossif Piatnitski, que, por ocasião de uma sessão do comitê central do PCUS, em 24 de junho de 1937, protestava contra o aumento de repressão, foi preso no dia seguinte, acusado de ser um antigo agente da polícia czarista, julgado e executado três semanas depois. Em breve, o terror estendeu-se aos próprios partidos comunistas. Os comunistas alemães refugiados na URSS foram os primeiros a sofrer com isso: mais de 1100 entre eles foram presos, uma centena fuzilados, cerca de 200 morreram no gulag e 132 foram entregues, entre 1937 e 1940, aos... nazistas. Margarete Buber-Neumann fez parte desses "privilegiados" e, depois de ter conhecido o gulag siberiano entre 1937 e 1940, pôde comparar seus méritos com os do campo nazista de Ravensbrück, O Partido comunista polonês também foi muito atingido: foi despido de autoridade pelo Komintern em 1938 e várias centenas de membros e de dirigentes refugiados na URSS foram liquidados.
Uma das obsessões de Stalin era o extermínio dos trotskistas ou os que se supunha serem tais. Estes foram perseguidos no mundo inteiro. Em cada partido comunista, o "serviço de quadros" estabeleceu listas negras que recenseavam, notadamente, os trotskistas, condenando-os à punição pelos militares comunistas, que podia ir até o assassinato, como se viu na Espanha. O final desta caçada foi a operação longa e complicada organizada por ordem pessoal de Stalin por um dos braços direitos de Beria, o general do NKVD Pavel Sudoplatov: o assassinato de Trostki, no México, em 20 de agosto de 1940. O cerco continuou na França, pois em outubro de 1943, na região do Puy-en-Velay, o dirigente trotskista e fundador do Partido comunista italiano, Pietro Tresso, foi assassinado com três de seus camaradas por militantes comunistas.
Simbolicamente, poderiamos datar de novembro de 1957 o último ato de terrror dentro do movimento comunista na Europa. Com efeito, foi quando da 1ª Conferência mundial dos partidos comunistas, reunidos em Moscou nesse momento, que o Partido comunista húngaro fez ratificar pela assembléia o princípio da condenação à morte do ex-chefe comunista Imre Nagy, que, por ocasião da revolta húngara de 1956, havia-se reunido aos insurretos e assumido seu comando. Nagy foi condenado à morte e enforcado em 16 de junho de 1958. O francês Maurice Thorez e o italiano Palmiro Togliatti haviam votado a morte.
Coréia do Norte - ponto cego dos direitos humanos
Apesar de todos os esforços do regime para disfarçar seus crimes sabe-se que é uma monstruosidade. Mas, quem se preocupa com isso no Ocidente?
PIERRE RIGOULOT
L'Express
Coréia do Norte é um pouco o ponto cego dos políticos e das organizações de defesa dos direitos humanos. Hoje, ninguém - ou quase ninguém - denuncia essa monstruosidade entrincheirada que esconde 200 mil presos em campos de concentração, traz de volta seus fugitivos com um fio de arame farpado passado pelas bochechas e pratica a chantagem à guerra para obter uma ajuda alimentar da comunidade internacional. É verdade que as portas do "reino eremita" - assim é designado às vezes o Estado norte-coreano - estão bem fechadas e que qualquer informação a ele relativa sofre por seu caráter incerto ou pontual. Alguns desertores, viagens muito organizadas e fotos satélite não bastam para elaborar um requisitório global irrefutável. É verdade que, a exemplo de Sartre, que acusava injustamente a Coréia do Sul por ter desencadeado a guerra contra o norte em junho de 1950, a esquerda não gosta muito de atacar só a "República Popular Democrática". Um bom exemplo dessa complacência com relação ao norte é dado pelas surpreendentes discussões atualmente em andamento dentro do Partido socialista francês: deve-se ou não convidar para o congresso de Brest os representantes do Partido trabalhista coreano? Esses arqui-stalinistas, indesejáveis até em La Courneuve para a festa da Humanidade, poderiam ser recebidos em nome do "diálogo" e das boas relações que François Mitterrand mantinha com o ex-nº 1 norte-coreano? Não ousamos acreditar nisso...
A existência de vítimas do comunismo coreano não data de ontem. Bem antes da instauração da República Popular Democrática da Coréia, em 9 de setembro de 1948, na parte do país que havia sido ocupada pelo exército soviético ao norte do 38º paralelo depois da derrota do Japão, grupos concorrentes enfrentaram-se, ocorreram expurgos e liquidações. Os nacionalistas foram perseguidos por Kim Il-sung, o chefe de uma pequena unidade de guerrilha anti-japonesa na Mandchuria, chegada nos furgões soviéticos em 1945, e depois foi a vez dos comunistas que viviam no país há muito tempo. Expurgos sacudiram em seguida regularmente o Partido trabalhista coreano -- expurgos que, segundo se calcula, fizeram até os últimos anos perto de 100 mil mortos.
Depois de três anos de guerra, só um armistício foi assinado, em julho de 1953, que não impediu as incursões do Norte. Entre os golpes dados pelo Norte, citemos o ataque, por um comando de 31 homens, contra o palácio presidencial sul-coreano, em 1968, o atentado de Rangun, na Birmânia, dirigido em 9 de outubro de 1983 contra os membros do governo de Seul ou a explosão em pleno vôo de um avião da Korean Air Lines em 29 de novembro de 1987, com 115 pessoas a bordo.
Recentemente, surgiu outro motivo grave de contestação do regime norte-coreano: a situação alimentar. Esta, medíocre há muitos anos, piorou, a ponto das autoridades lançarem apelos à ajuda internacional. A Coréia do Norte invoca diversas catástrofes naturais, mas as principais causas dessa penúria alimentar são próprias de toda agricultura socialista, planificada, centralizada. O desmoronamento do comunismo na URSS e o novo curso que tem lugar na China fizeram a ajuda desses dois países à Coréia do Norte diminuir muito. A falta de divisas também pesa sobre o governo norte-coreano.
O segredo é tal nesse país que se hesita ainda: carestia ou miséria? E qual é a parte de manipulação das informações pelo poder coreano? A pletórica armada do Norte não morre de fome, em todo caso. E isso explica as reticências de certos observadores diante da ajuda ocidental fornecida sem contra-partida.
| Lavagem cerebral - originalidade sem limites A "lavagem cerebral" descrita por certos ocidentais não tem em si nada de muito sutil. Trata-se, acima de tudo, de não deixar ao prisioneiro a mínima oportunidade de uma expressão autônoma. Os meios para isso são múltiplos. Os mais originais são uma sub-alimentação sistematicamente mantida, que enfraquece a resistência bem como a vida interior, e uma saturação permanente pela mensagem da ortodoxia, em um contexto em que não se dispõe nem de tempo livre (estudo, trabalho, tarefas preenchem totalmente os longos dias), nem de nenhum espaço de intimidade (celas super-populadas, luz acesa durante toda a noite, muito poucos objetos pessoais autorizados), nem evidentemente a mínima latitude de exprimir um ponto de vista original: todas as intervenções (aliás obrigatórias) em uma discussão são minuciosamente anotadas e guardadas na pasta de cada um. Outra originalidade: a delegação aos outros prisioneiros da maior parte do trabalho ideológico, o que mostra o alto nível de eficácia do sistema. Todos se revistam mutuamente, avaliam os resultados de seus companheiros em matéria de trabalho (e, portanto, de rações alimentares), pronunciam-se sobre o grau de "reforma" dos que podem ser libertados; e, acima de tudo, criticam os companheiros de cela, não só para incitá-los a uma auto-crítica completa, tanto quanto para provar para si mesmos que estão progredindo. |
China - um povo forçado à revolução
Desde 1934, para arrolar as massas camponesas amorfas, Mao fez reinar o "terror vermelho". Antes de inventar a "retificação".
JEAN-LOUIS MARGOLIN
L'Express
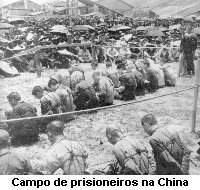 Não houve "belle
époque" na longa história do comunismo chinês, surgido desde 1921 sob a forma de
um partido organizado. Ou então, foi tragicamente curta: tudo aconteceu como se, depois
de 1927, o PC chinês houvesse procurado vingar ainda e ainda, por uma brutalidade sem
medidas, seus militantes, então vítimas da atroz repressão do Komingtang de Chang
Kai-chek, simbolizada pelas caldeiras de locomotivas crematórias descritas por Malraux em
"La Condition Humaine". Durante mais de meio século, a longa repressão,
indissociável da aventura do comunismo chinês, foi ligada a seu chefe, Mao Tsé-tung -
de 1930 até sua morte, em 1976. Este não recuou jamais diante da luta para a frente
terrorista, cada vez que se tratava de confortar a revolução - ou seu poder pessoal, que
cedo ele confundiu com esta última.
Não houve "belle
époque" na longa história do comunismo chinês, surgido desde 1921 sob a forma de
um partido organizado. Ou então, foi tragicamente curta: tudo aconteceu como se, depois
de 1927, o PC chinês houvesse procurado vingar ainda e ainda, por uma brutalidade sem
medidas, seus militantes, então vítimas da atroz repressão do Komingtang de Chang
Kai-chek, simbolizada pelas caldeiras de locomotivas crematórias descritas por Malraux em
"La Condition Humaine". Durante mais de meio século, a longa repressão,
indissociável da aventura do comunismo chinês, foi ligada a seu chefe, Mao Tsé-tung -
de 1930 até sua morte, em 1976. Este não recuou jamais diante da luta para a frente
terrorista, cada vez que se tratava de confortar a revolução - ou seu poder pessoal, que
cedo ele confundiu com esta última.
A primeira fase correspondeu à construção de um núcleo de Estado e de um embrião de exército vermelho, desde 1931 na província meridional de Jiang-xi, em seguida, depois da Longa Marcha de 1934-1935, ao redor de Yan'an, nos confins setentrionais do país. A fraca representatividade do PC na sociedade chinesa - ele só recrutava entre a elite, com base em um nacionalismo radical, e entre os marginais, errantes e bandidos - impôs-lhe, com efeito, se quisesse apresentar sua candidatura ao poder, forçar à revolução massas camponesas amorfas, quebrando todos os contra-poderes por um violento "terror vermelho". Este inspirou-se nessa doutrina do partido-Estado que é o bolchevismo, mas também nos métodos das sociedades secretas (dissimulação permanente, execução dos "traidores"...) que forneceram numerosos membros e funcionários ao PC de antes de 1949. Desde o início dos anos 30, proprietários de terras, camponeses ricos e funcionários são liquidados em cada Cidade do Jiang-xi, enquanto o próprio exército vermelho é ferozmente expurgado: Essas dezenas, até mesmo centenas, de milhares de vítimas não estão por pouco no contra-ataque provisoriamente vitorioso de Chang Kai-chek.
Yan'an viveu também, em 1942, a elaboração do que talvez tenha sido a principal inovação maoísta, exportada para todos os partidos comunistas da Ásia oriental: a "retificação" ou reeducação. Esta é então experimentada sobre os militantes do PC, estendendo-se depois, pouco a pouco, depois da vitória deste último, em 1949, ao conjunto dos chineses e até aos prisioneiros nos campos. Trata-se de "purificar-se" de todos esses "maus pensamentos" vindos do "feudalismo" ou do capitalismo, que desviam do caminho revolucionário proposto pelo "pensamento Mao Tse-tung", simultaneamente erigido em dogma infalível. À mínima insubmissão, a repressão é impiedosa: reuniões de humilhação, com passagens muito freqüentes de violências pessoais e torturas, prisões e execuções.
Processo controlado - Ao contrário do "grande irmão" soviético, o comunismo chinês chegou, portanto, ao poder com uma política repressiva já posta em prática. Restava estendê-la ao conjunto da imensa China e a suas diversas camadas sociais. Estas, até 1957, foram objeto de campanhas sucessivas, seja de aniquilação, seja de domesticação. Foi neste momento que a repressão fez o maior número de vítimas, segundo um processo perfeitamente controlado em suas linhas gerais: os ativistas do PC tinham quotas de detenção ou de eliminação a serem respeitadas entre os "alvos" visados. A campanha mais sangrenta foi a primeira: a parada era muito importante, pois através da reforma agrária o PC tinha de conquistar o poder em cada uma das inúmeras aldeias chinesas. De 2 a 5 milhões de "proprietários de terras" (todos os que desagradavam, corriam o risco de fato de serem assim classificados) foram executados, depois de um linchamento organizado. O terror voltou-se em seguida para as cidades que foram proporcionalmente ainda mais duramente atingidas. Os antigos funcionários e militares do Komintang, os empresários privados, os intelectuais e, enfim, em 1957, os "companheiros de caminho" e militantes do Partido acusados de "moderação" ou de individualismo foram executados, com frequência sumariamente e sem processo mesmo formal, ou enviados aos milhões para prisões e campos do Laogai, o gulag chinês, de onde só se saía raramente: à pena, com freqüência prolongada, acrescentavam- se em geral a residência vigiada e o trabalho obrigatório em ambiente penitenciário pelo resto da existência. No fim, tudo o que poderia "superar" na sociedade foi ferozmente martelado, eliminado, amordaçado. O lugar estava limpo para a marcação total por um PC que colocava cada um no compartimento pré-estabelecido de onde não poderia mais sair e, com frequência, nem mesmo seus filhos: os bons ( "vermelhos") - camponeses pobres, operários funcionários comunistas - e os maus ("negros") - ricos dos campos, "contra-revolucionários" e, em breve, capitalistas ou intelectuais. Quando se tratava de reprimir para dar exemplo, sabia-se onde ir buscar as vítimas.
Mao sabia, entretanto, que a China não tinha as bases materiais do poder que todos seus nacionalistas queriam há um século lhe devolver: ele temia, aliás, que um "XX Congresso" à moda soviética pudesse contestar seu poder e sua capacidade de escrever o livro da edificação do comunismo sobre essa sociedade página branca obstinadamente roubada. Daí, duas fugas sucessivas na utopia de um hiper-voluntarismo em que a magia de sua palavra triunfou das leis da natureza e das restrições dos processos sociais. Mas, de cada vez, o aumento de utopia foi também acompanhado por um aumento de repressão e de dramas. A acentuação foi posta primeiro, em 1958, sobre a economia: os rurais, agrupados em vastas comunas populares, deviam desenvolver maciçamente a produção agrícola, para permitir liberar os recursos necessários para a industrialização. O esforço era imenso, mas a mão de obra mobilizada nas instalações de irrigação ou ao redor de absurdos altos fornos de aldeia não tinha mais energia para cultivar os campos nem colher: a agricultura estava desmoronando.
A obstinação de Mao impedia qualquer abrandamento, o que constituiria para ele uma reprovação: de 20 a 40 milhões de chineses morreram de fome até 1962; foi provavelmente a maior carestia da História. Foi acompanhada por um surgimento maciço do canibalismo e de campanhas de terror contra os aldeões falsamente suspeitos de ocultar cereais (como sempre, o Partido não podia ter estado errado: eram os "sabotadores" que impediam o êxito). Mao tinha de agir, e depressa: seu poder foi atingido pelo malogro catastrófico do bem mal chamado "Grande Passo à Frente". Então ele se apoiou no exército e em uma juventude escolarizada ao mesmo tempo fanatizada e frustrada de perspectivas de êxito individual: foi, em 1966, a Revolução Cultural, outro atalho em direção ao comunismo através da reforma total da "superestrutura" política e ideológica. Esses leais instrumentos que eram os Guardas Vermelhos perseguiram, seqüestraram, pilharam, humilharam, torturaram, assassinaram - primeiros seus professores, depois os funcionários políticos - para a maior glória de Mao e de seus sectários, que assim haviam voltado ao poder. O problema era que os Guardas não sabiam mais do que destruir, que tomaram gosto por isso e que acabaram combatendo entre si: o velho ditador teve de fazer denunciar o exército e restabelecer em seus postos a maioria dos funcionários sobreviventes para evitar o desmoronamento do país. Aprovou o massacre pelo exército e pelas milícias camponesas de centenas de milhares de Guardas Vermelhos vencidos (e de "negros", das famílias dos quais eles com frequência haviam saido): enviou os outros, aos milhões, trabalhar por longo tempo nos campos mais extremos.
Sem dúvida, Deng Xiao-ping, voltando à ativa em 1977, foi o milhar de mortos da praça Tiananmen (1989), foram as milhares de execuções judiciais anuais, às vezes públicas, nas questões de "direito comum", foi mais ainda a continuidade em uma atitude ferozmente repressiva no Tibet. Mas foi também a libertação da grande maioria dos presos políticos, a diminuição dos poderes da polícia, o aumento da justiça e dos cidadãos, a revalorização da posição dos advogados, o recuo das "campanhas de massa" e o abandono das funestas e mortíferas derivas utópicas apreciadas por Mao. O comunismo chinês talvez tenha sido salvo por longo tempo pela combinação da distensão política e do desenvolvimento econômico. O regime conseguirá também lavar seu "pecado original": ter chegado ao poder menos pela revolução do que pelo terror?
| Os canibais da Revolução Cultural O apelo a "destruir todos os monstros" que desencadeou o movimento na universidade de Pequim não era uma palavra vã: o "inimigo de classe", recoberto de cartazes, de chapeus e às vezes de trajes ridículos (as mulheres principalmente), obriga a posturas grotescas (e difíceis), o rosto rabiscado com tinta preta, obrigado a latir como um cão, de quatro, devia perder sua dignidade humana. Em agosto de 1967, a imprensa de Pequim vomita: os anti-maoístas são "ratos que correm nas ruas. Matem-nos, matem-nos". Essa mesma desumanização é encontrada desde o período da reforma agrária, em
1949. Dessa forma, um proprietário de terras é atrelado a um arado e obrigado a
trabalhar a golpes de chicote: "Tu nos trataste como animais, agora podes ser nosso
animal", gritam os camponeses. Vários milhões de "animais" semelhantes
foram exterminados. Alguns foram até comidos: 137 pelo menos no Guang-xi, em particular
diretores de colégios, e com a participação de funcionários locais do PC; Guardas
Vermelhos fizeram-se assim servir carne humana na cantina: foi aparentemente também o que
aconteceu em algumas administrações. Harry Wu evoca um executado do Laogai, em 1970,
cujo cérebro foi devorado por um agente da Segurança: ele havia - crime sem igual -
ousado escrever: "Derrubem o presidente Mao". |
Publicado em O Estado de São Paulo - 23/11/97