

Um
iluminista na guerra
contra o atraso
Os historiadores conhecem bem a trajetória política de José Bonifácio de Andrada e Silva, mas sua atuação como ecologista só agora está sendo valorizada. Neste mês de setembro, o cientista político José Augusto Pádua defende no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro a tese de doutorado A Decomposição do Berço Esplêndido, que investiga as raízes do ecologismo brasileiro. Pádua não tem dúvida: "José Bonifácio foi um pioneiro. Foi o primeiro político a integrar a ecologia em um projeto nacional, um ecologista muito à frente do seu tempo".
O professor José Murilo de Carvalho, do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, concorda: "Ele inovou ao passar do naturismo para o ecologismo, superando a admiração passiva da natureza para incorporá-la racionalmente a um projeto de nação".
Segundo o historiador, Bonifácio era um conservador, um monarquista convicto, mas que acreditava no progresso da ciência. Era um filho do Iluminismo, o movimento filosófico que, na Europa do século XVIII, insurgiu-se contra o poder absoluto dos monarcas e da Igreja. "Em política, ele é o emblema do conservador reformista", diz Carvalho. "Embora avesso à democracia, era contra a escravidão e a favor do uso racional da natureza."
Estudar na Europa
Nascido em 13 junho de 1763, em Santos, filho de um fazendeiro rico, José Bonifácio estudou em São Paulo, no Rio e, com 20 anos, foi cursar Direito e Ciências Naturais na Universidade de Coimbra, em Portugal, um centro iluminista que, em 1783, acabara de ser expurgado de professores modernos. Entre os estudantes, entretanto, a influência de pensadores como Voltaire e Rousseau, que inspiraram a Revolução Francesa, era imbatível.
Em 1789, entrou para a Academia de Ciências de Lisboa, onde defendeu o trabalho Memória sobre a Pesca de Baleias e Extração de seu Azeite. No ano seguinte, foi mandado para estudar Mineralogia e Silvicultura na França e na Alemanha - foi o primeiro cientista brasileiro a fazer pós-graduação no exterior. Em Paris, assustou-se com o radicalismo da Revolução Francesa. Em Freiberg, virou amigo do naturalista Alexander von Humboldt. Na Suécia e na Noruega, descobriu quatro espécies e doze novas variedades de minerais.
Viveu 36 anos na Europa. Casou-se, voltou a Portugal, foi inspetor de minas, diretor de reflorestamento e professor em Coimbra até a invasão das tropas de Napoleão, em 1808 - que forçou D. João VI a ir para o Brasil. Bonifácio ficou em Lisboa. Lutou contra os franceses no exército português e chegou a tenente-coronel. Retornou ao Brasil em 1819, com 56 anos, pensando em se aposentar. Mas a independência atropelou seus planos.
"Quando ele chegou", conta José Augusto Pádua, "fez uma longa viagem pelo interior de São Paulo, acompanhado dos irmãos. Foi um choque. Ele voltara ao Brasil da sua juventude, cheio de nostalgia, e deparou-se com a escravidão, a perseguição aos índios, o desmatamento, o desperdício. Foi aí que começou a pensar num projeto para o Brasil que valorizasse a natureza".
Um profeta contra o desmatamento
Como vice-governador de São Paulo, José Bonifácio tentou frear a destruição das florestas e fez previsões sombrias.
 "Nossas terras estão ermas, as poucas que temos
roteado são mal cultivadas, porque o são por braços
indolentes e forçados; nossas numerosas minas, por falta
de trabalhadores ativos e instruídos, estão
deconhecidas ou mal aproveitadas; nossas preciosas matas
vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado da
ignorância e do egoísmo; nossos montes e encostas
vão-se escalvando diariamente, e com o andar do tempo
faltarão as chuvas fecundantes, que favorecem a
vegetação e alimentam nossas fontes e rios, sem o que o
nosso belo Brasil, em menos de dois séculos, ficará
reduzido aos páramos e desertos da Líbia. Virá então
esse dia, terrível e fatal, em que a ultrajada natureza
se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos". "Nossas terras estão ermas, as poucas que temos
roteado são mal cultivadas, porque o são por braços
indolentes e forçados; nossas numerosas minas, por falta
de trabalhadores ativos e instruídos, estão
deconhecidas ou mal aproveitadas; nossas preciosas matas
vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado da
ignorância e do egoísmo; nossos montes e encostas
vão-se escalvando diariamente, e com o andar do tempo
faltarão as chuvas fecundantes, que favorecem a
vegetação e alimentam nossas fontes e rios, sem o que o
nosso belo Brasil, em menos de dois séculos, ficará
reduzido aos páramos e desertos da Líbia. Virá então
esse dia, terrível e fatal, em que a ultrajada natureza
se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos".
(José Bonifácio, Representação à Assembléia Geral Constituinte do Império do Brasil sobre a Escravatura, 1823) |
Acompanhe na animação abaixo o desenvolvimento da situação das matas no estado de São Paulo.

FONTE: Reconstituição da Cobertura Florestal do Estado de São Paulo. A.C. Cavallii, J.R. Guillaumon e R. Serra Filho, Instituto Florestal de São Paulo, 1975. Atlas da Evolução dos Remanescentes da Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica, 1993.
Um
cientista seqüestrado
pela política
Em 1820, estourou a Revolução Constitucionalista do Porto e D. João VI teve de voltar para Lisboa. Deixou no Rio de Janeiro seu filho, D. Pedro, como regente. Também convocou eleições para os governos das províncias e para uma Assembléia Constituinte. José Bonifácio foi chamado para presidir a eleição em São Paulo. Agiu tão bem que foi indicado para vice-governador. Em janeiro de 1822, foi nomeado ministro do Reino. Uma ascensão fulminante.
Nos dois anos em que foi ministro, tramou e consolidou a independência do Brasil. E tentou reverter a predação da natureza. Propôs a abolição (gradual) da escravatura e a introdução do trabalho assalariado no campo. Defendeu a reversão das terras não cultivadas à Coroa. Pediu reflorestamento obrigatório e preservação de um sexto das matas originais de toda propriedade. Quando era ministro, a Assembléia aboliu a doação das sesmarias, as propriedades que, desde o século XVI, o rei dava a grandes senhores, cujo tamanho médio era 43 quilômetros quadrados (27 Parques do Ibirapuera, em São Paulo!) - a origem do latifúndio no Brasil.
Foi ministro até julho de 1923, enfrentando, com severidade, tanto a oposição liberal quanto as tentivas portuguesas de retomar o Brasil. Em novembro, D. Pedro I fechou a Assembléia Constituinte e deportou Bonifácio, junto com outros deputados, para a França. Mas ao abdicar, em 1831, nomeou-o tutor de D. Pedro II. O patriarca da independência tinha 68 anos e pretendia acabar seus dias em pesquisas científicas, mas, mais uma vez, não pôde. Ainda viveu sete anos de agitação na corte. Em 6 de abril de 1838, morreu em casa, na Ilha de Paquetá.
O descobridor da andradita "O patriarca da independência foi um dos maiores geólogos da sua época", diz o professor Daniel Atencio, do Departamento de Mineralogia da Universidade de São Paulo. "Ele descreveu novas espécies de minerais num tempo em que não havia raio X para estudos de estrutura e a análise química precária". Mas eram todas espécies européias. Nenhuma do Brasil.Aqui ele não fez pesquisa alguma . A política não deixou. Existem 5.500 espécies e 30.000 variedades de minerais descritos no mundo, mas não param de surgir mais. Em 1799 e 1800, José Bonifácio descobriu as espécies petalita e espodumênio (valiosas porque contêm lítio, usado em ligas), aescapolita e a crilolita. E, entre as variedades, descreveu a acanticone, a salita, a coccolita, a apofilita, a afrigita, a indicolita, a wernerita e a alocroita. Essa última foi renomada, em 1868, em sua homenagem, como andradita. |
Muita
terra para
incendiar
O principal instrumento agrícola
do Brasil foi a queimada
O desperdício nos métodos de mineração colonial motivou José Bonifácio a estudar Mineralogia, na Europa, e propor reformas à Coroa portuguesa. Mas, em 1820, ao voltar o Brasil, foi o desmatamento e os problemas sociais que chocaram o cientista. A expansão da lavoura do café desmatou as terras altas do Rio de Janeiro e entrou em São Paulo pelo vale do rio Paraíba do Sul. As queimadas para a instalação de cafezais transformaram o noroeste de São Paulo e entraram no Paraná, no século XX. Acabaram com quase tudo o que restava da Mata Atlântica.
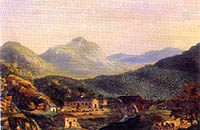 |
Fazenda desmatada para o café em Magé, Rio de Janeiro. O quadro do pintor J. J. Steinmann (1800-1844) mostra aderrubada da floresta da Mata Atlântica |
Para saber mais
A Ferro e Fogo: A História e a Devastação da Mata Atlântica Brasileira. Warren Dean. SP, Compainha das Letras, 1996.
Ecologia Política no Brasil. Org. José Augusto pádua. Rio, Espaço e Tempo e IUPERJ 1987.

O sabor da própria carne
Dificilmente haverá assunto mais cercado de preconceito. Os brancos, cristãos e ocidentais, vêem a antropofagia como símbolo supremo da selvageria indígena. Os antropólogos, normalmente, não gostam de falar a respeito porque têm medo de expor os índios. Os índios, por sua vez, quanto mais "civilizados", mais têm medo de ser julgados bárbaros. Assim, o canibalismo virou tabu.
A Antropologia desconhece, no passado ou no presente, uma sociedade que consumisse carne humana como alimento. O canibalismo sempre foi simbólico. Ou se devoram os inimigos, como faziam os tupis do litoral brasileiro no século XVI, em impressionantes cerimônias coletivas, ou se pratica uma antropofagia funerária e religiosa. Aí, a ingestão das cinzas dos mortos homenageia e ajuda a alma daquele que morreu. Esse ritual faz parte, ainda hoje, dos costumes dos yanomamis.
 |
1993.Yanomanis da aldeia Haximu mostra potes com cinzas dos parentes cremados. Elas são comidas com purê de banana. Repare a colher |
Se as cerimônias tupis apavoram pelo que tinham de brutal, o ritual dos yanomamis é capaz de chocar o senso comum dos brancos pelo que tem de inesperado. Para um yanomami, comer as cinzas do amigo morto é uma prova de respeito e afeto. O mais desconcertante desse canibalismo que perdura é exatamente isso: ele não é um gesto de ódio, mas de amor.
Agora, a SUPER vai pôr você em dia com os rituais antropofágicos dos índios brasileiros. Desde a bravura dos guerreiros que devoravam inimigos para herdar sua valentia em combate, até a devoção dos praticantes do canibalismo funerário, movido pela compaixão com os mortos. Sem temores nem tabus.
|
| 1952. Ilustração de Theodore de Bry para o livro de Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, mostra os tupinambás preparando o sacrifeicio de um prisioneiro (ao alto, sentado, sendo pintado) |
Comendo a coragem do inimigo
Em 1500, os europeus se espantaram com a belicosidade dos tupinambás, que habitavam a costa brasileira de São Paulo ao Ceará. Os índios, da família lingüística tupi, moravam em aldeias de 2 000 habitantes, mantinham relações pacíficas entre si e faziam alianças para atacar outras aldeias.
Em 1553, o alemão Hans Staden naufragou em Itanhaém, litoral de São Paulo, e ficou nove meses na aldeia do cacique Cunhambebe, na região de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Ele mesmo participou de uma expedição de canoa até Bertioga, em São Paulo, para capturar inimigos. Mortos e feridos foram devorados no campo de batalha e durante a retirada. Os cativos foram levados para a aldeia, para que as mulheres pudessem participar do ritual antropofágico.
Segundo o antropólogo Carlos Fausto, do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, "o valor fundamental da sociedade tupinambá era predar o inimigo". Fausto enfatiza: "Predação repetida e sem fim. Eles viviam para guerrear." A lógica da guerra não era o extermínio e sim o cultivo da inimizade. "O objetivo era valorizar-se apropriando-se das qualidades do oponente."
O sacrifício honrava vítima e carrasco. A execução podia demorar meses. O captor cedia sua casa ao cativo. Cedia também uma irmã, ou filha, como esposa.
O preso circulava pela aldeia e era exibido aos vizinhos. A execução atraía convidados, em festas e danças regadas a cauim (uma bebida fermentada à base de mandioca). O preso recebia a chance de vingar sua morte, antecipadamente. Pintado e decorado, era amarrado pelo ventre com a mussurama (uma corda de algodão) e recebia pedras para jogar contra a audiência. Insultava a todos, provando sua coragem.
O carrasco vestia um manto de penas, imitava uma ave de rapina e usava uma ibirapema (borduna). O padre Anchieta conta, em suas Cartas, Informações, Fragmentos Históricos e Sermões, que viu um preso desafiar o algoz, aos gritos : "Mata-me! Tens muito que te vingar de mim! Comi teu pai. Comi teu irmão! Comi teu filho! E meus irmãos vão me vingar e comer vocês todos."
|
Muitos insultos, segundos antes do golpe fatal Na ilustração de Bry (inspirada pela estética do Renascimento europeu), o prisioneiro, no centro da aldeia, xinga e ofende os captores, segundos antes de receber o golpe da borduna. |
Golpe de misericórdia
Um golpe na nuca rompia o crânio. Acudiam mulheres velhas, com cabaças, para recolher o sangue. Tudo era consumido por todos. As mães besuntavam os seios de sangue para os bebês também provarem do inimigo. O cadáver era esquartejado, destrinchado, assado numa grelha e disputado por centenas de participantes - que comiam pedacinhos. Se fossem muito numerosos, fazia-se um caldo dos pés, mãos e tripas cozidas. Os hóspedes retornavam às aldeias levando pedaços assados.
Só o carrasco não comia. Entrava em resguardo, em jejum, e, após a reclusão, adotava um novo nome. O acúmulo de nomes era sinal de bravura: indicava o número de inimigos abatidos. Grandes guerreiros tinham até 100 apelidos. Comer o inimigo era afirmar potência. "O canibalismo exprimia a força do predador, na sua capacidade máxima", diz Carlos Fausto. "Para eles, os seres potentes eram devoradores. Como o jaguar."
A catequese dos brancos acabou com esse canibalismo guerreiro. O ritual pertencia a uma cultura estável, que foi desestruturada até em grupos mais arredios. A última tribo tupi contatada no Brasil, em 1994, os tupi-de-cunimapanema, no norte de Santarém, no Pará, não tinha vestígio de antropofagia.
|
A receita é cozinhar antes de assar Com a participação de toda a tribo o cadáver era esquartejado, destrinchado, cortado em pedaços e cozinhado em um caldeirão, antes de ser assado em postas. No canto à direita, Hans Staden observa, perplexo. |
No purê
de banana, as
cinzas dos amigos
Há 25 000 yanomamis nas montanhas da fronteira do Brasil com a Venezuela, numa das áreas mais remotas e intactas do mundo. Desses, 10 000 estão em território brasileiro. Moram em mais de 100 aldeias, falam quatro dialetos e mantêm um estado guerra intermitente uns com os outros. Para todos eles, não há morte natural. Morre-se pela ação dos inimigos ou pela trama de um feiticeiro. Portanto, toda morte requer vingança.

A grande comilança antropofágica Homens, mulheres e crianças bebem cauim e devoram, animadamente o inimigo assado na grelha. Até 2000 índios celebravam o ritual comendo pequenos pedaços do corpo do prisioneiro. Atrás, Staden, agita os braços horrorizado. |
Esses yanomamis praticam o endocanibalismo (comem gente da própria tribo). É uma cerimônia que reitera do compromisso de vingar o morto. "O ritual organiza um estado de hostilidade permanente", diz o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, do Museu Nacional. "A cerimônia é quase uma eucaristia." Só os amigos sem laços de consangüinidade são convidados para o funeral.
O cadáver é pranteado e colocado sobre uma plataforma, fora da aldeia. A carne é separada dos ossos e cremada. Os ossos são limpos e moídos num pilão até virar cinza. No funeral, os vizinhos e aliados comem as cinzas com purê de banana.
 |
Memória Carnal José Augusto Kaxinawá, de 71 anos, comeu os cadáveres de uma tia e dois primos. |
"Ao contrário do culto cristão do ancestral", explica Viveiros de Castro, "a antropofagia yanomami realiza o apagamento total do antepassado". Tudo o que era do morto é destruído e seu nome deixa de ser pronunciado. Como o espírito deseja companhia, atraindo os vivos para a morte, todas suas posses e traços são destruídos para que ele viaje para o mundo dos mortos - que fica nas "costas do céu". Até pegadas, na mata, são apagadas.
Predação sem ódio
Até o final dos anos 60, os waris de Rondônia também praticavam o endocanibalismo. O ritual funerário era ultra-elaborado. Os mortos eram pranteados durante dias, com a família agarrada ao cadáver. Convidavam-se os amigos de outras aldeias para o funeral. O corpo era cortado e os ossos, quebrados. Alguns órgãos eram cremados. Fígado e coração eram assados embrulhados em folhas. Desfiados e estirados em uma esteira, eram comidos, entre lágrimas, com pão de milho assado. Quase sempre, o corpo já estava se deteriorando.
A passagem para o além da morte Os kaxinawá eram canibaisaté os anos 50, mas só comiam as pessoas queridas e notáveis. Quem não tinha parentes nem boa reputação era queimado.Doenças dos brancos desestruturaram a tribo e acabaram com os rituais.
|
|
Os waris apreciam carne gordurosa. Mas não tocavam no tronco humano, cheio de gordura, porque a cerimônia era simbólica, não gastronômica. "Eles comiam naquinhos, pedacinhos, da carne do morto", explica a antropóloga Aparecida Villaça. Se o corpo estivesse realmente estragado, era queimado. O crânio era quebrado, os ossos moídos e as cinzas comidas com mel. O luto durava seis meses, durante os quais a família queimava e destruía as posses do morto até esquecer seu nome.
Para a antropóloga, há uma continuidade entre o endocanibalismo e o exocanibalismo dos waris, que comiam os inimigos para expropriar-lhes a humanidade. "Comer é a prova irrefutável da não -humanidade da coisa comida. Tanto para os inimigos, que não eram considerados gente, quanto para os parentes, cuja morte é difícil de aceitar. O endocanibalismo dos waris é uma predação sem hostilidade. Também aí, comer o morto acaba com sua humanidade."
|
O bem mais precioso dos vivos Os yanomanis guardam as cinzas dos mortos em cabaças lacradas dentro de cestos. São consumidas aos poucos em sucessivas cerimônias. O canibalismo garante a ida para o céu de quem é comido. |
Os waris de Rondônia
Os waris, da fronteira de Rondônia com a Bolívia, foram pacificados em 1962. Até 1945 devoraram os seringueiros que invadiam suas terras.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o preço da borracha subiu e seringueiros invadiram as terras waris, no Rio Guaporé, em busca de mais mercadoria. Houve muitos confrontos, com um saldo macabro. Cadáveres mutilados, sem cabeça, braços ou pernas, eram encontrados na área. Expedições partiram da cidade de Guajará-Mirim para punir os índios.
"Eles comiam pedaços dos inimigos porque não os consideravam humanos", diz a antropóloga Aparecida Villaça, que estudou o grupo e escreveu o livro Comendo Como Gente. "Assar e comer inimigos era uma forma de predação que expropriava a condição humana deles."
Os matadores não comiam. Ficavam em resguardo até dois meses, deitados na rede, guardando a energia do combate e abstendo-se de relações sexuais. "Era uma digestão simbólica". Para os waris, o espírito do inimigo "cola" no matador. Tanto que quando um guerreiro é morto pelo inimigo vira um deles.
Hoje, o canibalismo guerreiro dos waris terminou por absoluta falta de inimigos. As tribos rivais foram dizimadas pelas doenças de branco. Só restaram os brancos: agora, os 1 800 waris têm a assistência de missionários católicos e protestantes, além dos funcionários da Fundação Nacional do Índio (Funai).

"Eu sou um jaguar"
Candido Portinari fez o desenho ao lado em 1941, inspirado na tentativa de Hans Staden de convencer o chefe Cunhambebe a não comer carne humana. A resposta do índio, relatada no livro Duas Viagens ao Brasil, entrou para a História.
Até o final dos anos 60, os waris de Rondônia também praticavam o endocanibalismo. O ritual funerário era ultra-elaborado. Os mortos eram pranteados durante dias, com a família agarrada ao cadáver. Convidavam-se os amigos de outras aldeias para o funeral. O corpo era cortado e os ossos, quebrados. Alguns órgãos eram cremados. Fígado e coração eram assados embrulhados em folhas. Desfiados e estirados em uma esteira, eram comidos, entre lágrimas, com pão de milho assado. Quase sempre, o corpo já estava se deteriorando.
Os waris apreciam carne gordurosa. Mas não tocavam no tronco humano, cheio de gordura, porque a cerimônia era simbólica, não gastronômica. "Eles comiam naquinhos, pedacinhos, da carne do morto", explica a antropóloga Aparecida Villaça. Se o corpo estivesse realmente estragado, era queimado. O crânio era quebrado, os ossos moídos e as cinzas comidas com mel. O luto durava seis meses, durante os quais a família queimava e destruía as posses do morto até esquecer seu nome.
Para a antropóloga, há uma continuidade entre o endocanibalismo e o exocanibalismo dos waris, que comiam os inimigos para expropriar-lhes a humanidade (veja na página anterior). "Comer é a prova irrefutável da não-humanidade da coisa comida. Tanto para os inimigos, que não eram considerados gente, quanto para os parentes, cuja morte é difícil de aceitar. O endocanibalismo dos waris é uma predação sem hostilidade. Também aí, comer o morto acaba com sua humanidade."
Os deuses canibais dos arawetés
Os arawetés são uma sociedade de 230 índios, contatados em 1976, que fala uma língua tupi. Vivem ao sul de Altamira, no Pará. Não são canibais, preferem ser canibalizados.
Para os arawetés, a alma deve ser devorada pelos deuses, chamados mái. Só então os mortos podem ressuscitar e virar, eles também, divindades no céu. Assim, sem comer carne humana, incorporaram a tradição canibal tupi de um modo original. Eles não são comedores - eles são a comida. Ou melhor: sua alma é a comida dos deuses.
O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que pesquisa o grupo desde 1981 e escreveu Araweté: Os Deuses Canibais, explica que isso é uma mistura entre dois tipos de canibalismo.
"É exocanibalismo porque eles são devorados simbolicamente por deuses não-humanos, que não pertencem à tribo. E é também endocanibalismo porque eles próprios viram deuses depois de comidos." Portanto, é como se voltassem para comer sua própria gente.Viveiros de Castro admite que pode haver mais canibais entre os 53 povos indígenas da Amazônia dos quais a Funai tem indícios, mas ainda não contatou. Mas é uma possibilidade remota.
Os índios não contatados se reduzem a pequenos bandos arredios. Não têm tempo nem estrutura para produzir rituais complexos que duram dias e exigem tradições elaboradas.
"A estrutura social em que se baseavam os ritos canibais já desapareceu."
O canibalismo amoroso kaxinawá
No Acre, há 4 000 índios kaxinawá, da família lingüística pano, vivendo nos rios Juruá, Purus, Tarauacá e Envira. Até 1955, muitos comiam os mortos queridos.
José Augusto Kaxinawá, 71 anos, da aldeia Recreio, no Rio Purus, lembra-se muito bem. Comeu uma tia e dois primos, assados. Foi um ato de amor para ajudar as almas a viajar até o céu pela estrada do arco-íris.
A antropóloga inglesa Cecilia McCallum, da London School of Economics, que estuda o grupo kaxinawá desde 1983, explica para a SUPER: "Eles acreditam que, no céu, as almas vivem em festa. Não têm dor
de cabeça nem história, e não morrem mais." Em 1955, a tribo foipraticamente arrasada por doenças. Rituais, cantos e rezas sumiram. Antes, vigorava o canibalismo funerário.
O morto era dobrado, colocado numa grande panela de barro e cozinhado por três dias. Depois, era quebrado em pedaços e assado. Todos comiam, com aipim e banana verde cozida. Se fosse um homem, suas mulheres e ex-amantes extraíam os órgãos genitais e, juntas, comiam tudo. Se fosse mulher, os maridos e ex-amantes faziam a mesma coisa. "Assim, ajudavam o morto a virar divindade", afirma Cecilia McCallum. "Era um último ato de piedade e de amor." José Augusto se lembra de tudo. Muito bem.
Para saber mais:
Araweté: Os Deuses Canibais. Eduardo Viveiros de Castro, Rio. Edições UFRJ/ZAHAR, 1986.
Comendo como gente. Aparecida Vilaça. Rio, Edições UFRJ/Ampocs, 1992.
História dos índios no Brasil. Org. Maria Manoela Carneiro da Cunha. São Paulo, Fapesp e Companhia das Letras, 1992.
Mana. Revistado Programa de Pós-Graduação em Antropologia Museu Nacional, UFRJ

No desenho de Giovanni Leardo, de 1442, o mundo não tinha pé nem cabeça, só Europa e Mediterrâneo. A África era uma incógnita e o fim dos oceanos, uma caixa preta habitada por monstros inconcebíveis (como os da ilustração desta página, copiados das cartas náuticas do século XVI). Mas os barquinhos portugueses, de 25 metros de comprimento, tornaram o mundo pequeno e navegável.
Tudo começou em 1415, quando eles atravessaram o Mediterrâneo e tomaram Ceuta, no Marrocos. Depois, se lançaram em mar desconhecido. Ano após ano, foram descendo a costa da África. Com o infante D. Henrique (1394-1460), as navegações se expandiram e viraram a epopéia lusitana, conquistando continentes e produzindo lendas. A começar pela Escola de Sagres, o famoso centro náutico que teria sido criado por D. Henrique. É uma lenda, um mito. Na verdade, nunca existiu.
A mais mitológica das viagens começou em 8 de julho de 1497, há 500 anos, quando Vasco da Gama partiu de Lisboa, com quatro navios. Vinte e seis meses depois, voltou com o caminho marítimo para as Índias descoberto. Foi a navegação mais importante da História. O ponto culminante dos descobrimentos que mudaram o formato da Terra na cabeça da humanidade . Por isso, a SUPER foi a Portugal entrevistar os especialistas e reviver a era das navegações.
A saga de Vasco da Gama foi narrada pelo poeta Luis de Camões (1525-1580), em Os Lusíadas, com versos que os estudantes de língua portuguesa conhecem. Lembra? "As armas e os barões assinalados/ que da Ocidental praia lusitana/ por mares nunca dante navegados/ passaram além da Taprobana/ em perigos e guerras esforçados/ mais do que prometia a força humana/ entre gente remota edificaram/ novo reino que tanto sublimaram". (A propósito: Taprobana é a ilha de Ceilão, no sul da Índia.)
Pois, agora, você vai embarcar nas naus lusitanas. Vai testemunhar de perto a energia desbravadora que animou, com toda a justiça, o maior poema do nosso idioma.
Quem
esse barbudo
pensa que é?
O samorim (rei) de Calicute sorriu com desdém quando o português mostrou os presentes que trazia: capuzes, chapéus, três bacias, uma caixa de açúcar, dois barris de azeite e dois potes de mel. Reles bugigangas. "Então foi para isso que o Ali Malandi (almirante) viajou tanto?"
Aquele encontro, no dia 28 de maio de 1498, foi um desastre. Os navios de Vasco da Gama foram imediatamente presos no porto. Quando os indianos passavam, cuspiam no chão e amaldiçoavam: "Portugal, Portugal".
Vasco, então, jogou pesado, como era seu estilo. Seqüestrou seis nobres que subiram a bordo e obrigou o samorim a negociar. O indiano chamou-o e pediu mais seriedade. Se os portugueses queriam comércio, tudo bem, mas que trouxessem ouro, prata e tecidos de qualidade. E vermelhos, por favor. Foi assim, sob total desconfiança, que o comércio entre a Europa e Ásia foi reinaugurado.
Vasco da Gama era o homem certo na missão certa. Seu pai, prefeito de Sines, no sul de Portugal, era candidato para chefiar a expedição às Índias, mas morrera antes. "Conforme a tradição medieval", diz Vasco Telles da Gama, pesquisador e descendente do navegador, "a missão deveria ser transmitida ao primogênito, Paulo da Gama. Mas a influência de D. Manuel pesou". O rei conhecia Vasco desde menino.
O almirante era famoso pela crueldade. Em 1492, perseguira piratas franceses na costa. Além do mais, era membro da Ordem de Cristo, a sociedade de nobres que financiou parte das expedições marítimas. O símbolo da Ordem, a Cruz de Malta, cruzou os mares pintado nas velas. E, até hoje, enfeita a camisa do time de futebol carioca Vasco da Gama.
A expedição reuniu o dream team da navegação portuguesa, escalado pelo rei. Pero de Alenquer era o melhor piloto do mundo. Pero Escobar descobrira o Congo, em 1485. Mesmo assim, dos 160 homens e quatro caravelas que partiram, só 55 voltaram, em dois navios.
Tempestades e doenças
Logo na saída, um nevoeiro fez com que a esquadra se perdesse, só se reencontrando mais tarde. Na África, houve escaramuças com nativos. Para aproveitar os ventos do alto mar, a frota afastou-se bastante da costa. Três meses depois da partida, dobrou o Cabo da Boa Esperança. No sétimo mês, as gengivas dos marinheiros começaram a apodrecer e as pernas ficavam roxas. Era o escorbuto, a doença causada pela falta de vitamina C. Morreram muitos. Uma nau foi queimada e a tripulação redistribuída.
Em março de 1498, chegaram ao porto de Moçambique. Pela primeira vez, viram barcos árabes. O cais fervilhava de seres exóticos, de roupas coloridas e toucas com fios dourados. Havia carregamentos de ouro, prata, gengibre, pérolas e rubis. Era outro mundo.
Com a ajuda de pilotos nativos, bordejaram a costa até Mombaça (hoje, no Quênia). O sultão local mandou laranjas para mostrar que era de paz, mas Vasco não desembarcou. Fez muito bem: escapou de um ataque à sua nau. Dali em diante, toda escala significava emboscada. "A sorte era que, apesar de dominarem a costa", diz o historiador Antonio Farinha, da Universidade de Lisboa, "os muçulmanos se dividiam em reinos rivais." Graças à essa rivalidade, a sorte dos portugueses mudou.
A
estranha santa de
cinco braços
Quando chegaram em Melinde (também no Quênia), o sultão era amigável. Propôs uma aliança. Com a ajuda dele e de um piloto muçulmano hindu, a frota tomou uma decisão radical: afastar-se da costa e cruzar o Oceano Índico. Foi até fácil. No dia 20 de maio de 1498, chegaram em Calicute.
Cometaram uma gafe atrás da outra. Queriam tanto acreditar que os hindus eram cristãos, que confundiram um templo com uma igreja e uma estátua da deusa Devaki com a Virgem Maria. Álvaro Velho, o cronista da expedição, escreveu, muito iludido: "Jogaram água benta em nós. Havia santos pintados nas paredes da igreja, com coroas. Eram muito variados. Uns tinham dentes projetados da boca cerca de uma polegada, e quatro ou cinco braços."
Depois de concluir que o samorim não era trouxa, Vasco decidiu zarpar para Portugal. Na volta, morreram tantos marinheiros de escorbuto, que outro navio foi abandonado. Em setembro de 1499, a frota entrou de novo no Tejo.
O rei recompensou o almirante com uma rica pensão. Em 1502, mandou-o de volta ao Oriente com uma armada de vinte naus. Vasco quase destruiu a cidade de Quiloa, na África, saqueou navios, incendiou um barco de peregrinos árabes, matou pescadores e bombardeou Calicute. Arrebanhou 1 600 toneladas de especiarias, uma fortuna.
Virou Conde de Vidigueira e Vice-Governador das Índias, em 1524. Mas morreu três meses depois de assumir o cargo, em Cochim, na Índia. Seu corpo voltou para Portugal em 1539, com toda a pompa. Em 1880, seu caixão foi transladado para o Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. Lá, repousa entre os heróis de Portugal.

Tecnologia
das velas
e dos ventos
Os músicos tocavam com força enquanto o escrivão examinava os moradores da vila de Viseu, no norte de Portugal. A indecisão era visível. A escolha, complicada: trocar a rotina melancólica de camponês pela glória incerta de marinheiro. No século XV, os recrutadores percorriam as vilas com bandinhas e promessas de riqueza. Reuniam a gente na praça e ofereciam a isca: 50% do salário ali mesmo, na hora, como garantia às famílias que cedessem o pai ou um filho. Mas exigiam fiador: o rei queria indenização se o voluntário, num ataque de bom senso, fugisse antes do embarque.
O rei, sem trocadilho, era realista. As viagens eram mesmo uma loucura. Os barcos eram frágeis, o mar furioso e os perigos incontáveis. A favor, os portugueses só tinham um trunfo: conheciam, como ninguém, a aerodinâmica das velas.
Em 1415, usavam barcas de pesca, a remo, com velas quadradas. Homens, animais e carga acomodavam-se no convés. Se chovesse, cobriam-se com panos impregnados de óleo, para ficar impermeáveis. "Serviam para mares fechados, como o Mediterrâneo", diz o comandante Fernando Pedrosa, autor de Navio e Marinheiros: a Arte de Navegar entre, 1139 e 1499."Dentro dele era possível se guiar por faróis, a costa tinha comida e dava para fazer escalas." Mas o Oceano Atlântico tinha grandes ondas, correntezas, tempestades, costas desabitadas e com recifes, difíceis de atracar. A navegação exigia mais segurança e autonomia.
Em 1440, surgiram as caravelas, logo copiadas por espanhóis e genoveses. O casco era mais fundo e estreito, havia porão para carga e aposentos para o capitão. As velas triangulares, chamadas "latinas", eram mais manobráveis e permitiam avançar até com vento contrário. Em 1497, Vasco da Gama experimentou a primeira nau. Tinha mais espaço, velas tringulares e quadradas e muito mais solidez. Dava para carregar muita coisa.
A aerodinâmica das velas
Com a vela triângular (latina), os portugueses aperfeiçoaram a manobra bolinar: velejar sob ventos desfavoráveis, ziguezazeando.

Vela quadrada Só navega com vento a favor, soprando detrás do navio, num ângulo máximo de 12 graus em relação à rota. |
Vela triangular Navega com vento contrário e aproveita mais vento a favor, num ângulo de até 30 graus em relação à rota. O ziguezague é menor. |
Meses de privação Naufrágio, fome, doença, encalhes, piratas e ataques inimigos, eram o mínimo que um candidato a marinheiro deveria esperar. Dos 13 navios da armada de Cabral que veio ao Brasil, por exemplo, sete afundaram. Eram recrutados homens de 12 a 70 anos, mas meninos de 8 a 10 também embarcavam com os pais, como grumetes. Em missões perigosas, a coroa mandava presos e degredados. Se sobrevivessem, ganhavam de volta a liberdade. A esquadra era comandada pelo capitão-mor, um fidalgo da pequena nobreza, escolhido pelo rei, em geral um militar provado em batalhas, que passava o cargo para filho - como o nobre dono de castelo legava a um descendente. Cada navio tinha seu capitão, o piloto e o mestre, que comandava os marinheiros. Os salários eram estipulados pela duração da viagem. Lucro, mesmo, dava o aprisionamento de navios estrangeiros. O rei ficava com 20%, o capitão-mor com 30% e o resto era dividido pela tripulação segundo a hierarquia. Havia apenas um fogão à lenha a bordo, sobre uma chapa de ferro, coberta de areia. Com chuva ou muito vento não podia ser aceso. Comia-se muito peixe (às vezes cru), biscoitos úmidos, carne de porco salgada e vinho diluído em água, que era racionadíssima.
Higiene difícil O asseio era quase impossível. Banho só nas escalas, que podiam demorar semanas. Para fazer as necessidades, usava-se um balde, pendurado do lado de fora do navio, para ser lavado pelas ondas. O papel higiênico era uma corda com a ponta desfiada, também dependurada no navio, uma espécie de pincel molhado à espera do próximo usuário. A medicina era precária. O almirante Fernão de Magalhães, que deu a volta ao mundo em 1519, tinha 65 drogas na farmácia. Uma delas era a teriaga, planta usada tanto contra verminoses e flechadas. Antes da aplicação, a ferida era queimada e regada com urina. Velas e cordas tinham que estar sempre prontas para as mudanças de vento. Havia poucas distrações. A missa, no domingo, era um programão. Apesar de proibido, o jogo corria solto. Em 1565, Camões perdeu uma fortuna no carteado, entre a Índia e Moçambique. |
A evolução dos navios à vela
|
Os argonautas dos
|

Um império vasto demais
No Algarve, no sul de Portugal, a península de Sagres, no cabo de São Vicente, se debruça sobre uma vista espetacular do Oceano Atlântico. Tão bonita que seu nome foi usado durante anos para batizar uma escola onde cartógrafos e pilotos teriam estudado técnicas de navegação. Um sonho iluminista, não fosse um único detalhe: a Escola de Sagres nunca existiu.
O príncipe, infante D. Henrique, filho do rei D. João I, dinamizou muito as navegações, apoiando-as quando a Corte questionou seu custo. Nomeado governador do Algarve, em 1419, instalou-se em Lagos, a 20 quilômetros de Sagres, de onde estimulou muitas expedições. "Mas nunca houve reunião nenhuma de estudiosos em Sagres", disse à SUPER o professor Francisco Contente Domingues, da Universidade de Lisboa, "muito menos escola de navegação". A Escola foi "uma lenda criada por poetas românticos do século XIX. O ditador Antonio Salazar (1889-1970) difundiu-a para enaltecer as descobertas portuguesas". Há consenso entre os historiadores portugueses modernos: a escola é puro mito.
Mas, com ou sem ela, as navegações são de tirar fôlego. Nos séculos XV e XVI Portugal não cabia no mundo. Causa espanto que um país tão pequeno tenha conseguido ir tão longe. Os portugueses tinham dois motivos para se enfiar mar adentro: o econômico, de aumentar o comércio com a Europa, e o político, de expandir as terras cristãs na luta contra os mouros.
 |
A península deu origem ao mito de uma escola náutica que nunca existiu |
Lucros no porão
Bem antes da viagem às Índias, já ganhavam bom dinheiro vendendo açúcar plantado nos Açores. Mas queriam vender especiarias. "Naquele tempo não havia geladeira e a conservação da comida era um grande problema", diz o pesquisador Victor Rodrigues, do Centro de Estudos de História e Cartografia Antiga de Lisboa. "As especiarias melhoravam o gosto dos alimentos deteriorados". Cravo, canela, noz moscada, gengibre e pimenta davam um sabor exótico. Custavam caro e eram apreciadas pelos ricos.
Com a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453, a viagem das especiarias complicara-se. Elas iam de navio para Jedá, na Arábia, em camelos para Damasco, na Síria, e de lá para Alexandria ou Beirute, onde eram embarcadas para Veneza. Antes de 1497, os venezianos compravam 10 toneladas de especiarias por ano. No porão das naus, o volume (e o lucro) das cargas disparou: Cabral trouxe 100 toneladas das Índias; Vasco da Gama trouxe 1 500 toneladas, em 1502.
O comércio português enriqueceu. Em 1520, as especiarias forneciam a metade da receita dos cofres lusitanos. Logo, logo, capitalistas do mundo inteiro abriram o olho: holandeses, alemães, genoveses e ingleses passaram a investir pesado nas viagens pela nova rota do Cabo.
|
| Os canhões leves das naus, de tecnologia alemã, sujeitavam os territórios conquistados pelos portugueses |
Cruz de Malta no sol nascente
Quando as navegações começaram, as Cruzadas (1095-1291), ainda estavam na memória de todos. A luta dos cristãos provocara redistribuição de terras árabes entre os nobres. E em Portugal havia muito nobre para muito pouca propriedade. Ser rei era complicado. Sua Majestade tinha que se equilibrar para contentar súditos belicosos prontos a traí-lo com os espanhóis.
"Para expandir a luta contra os mouros", diz Francisco Contente Domingues, "os portugueses buscavam uma aliança militar com o Preste João, o rei cristão da Etiópia. Também estavam de olho nos cristãos nestorianos (uma seita de discípulos de São Tomé, emigrada da Síria para a Pérsia) que supunham existir na India". Daí a confusão de Vasco da Gama com os templos hindus em Calicute. Juntos, reconquistariam Jerusalém. Seria a glória do rei de Portugal e a riqueza dos nobres.
Não era bravata. Mesmo enriquecendo no Oriente, o ideal político nunca foi abandonado. Em 1517, o governador da Índia, Afonso de Albuquerque, mandou atacar Meca, na Arábia. Mas as pesadas naus armadas não puderam entrar no raso Mar Vermelho. Os portugueses atacaram o porto de Jedá com galés a remo, de menor calado, e pouca artilharia. Foram derrotados.
|
| Camões lendo Os Lusíadas para os frades de São Domingos, segundo o pintor português Antônio Carneiro (1872-1930). O poeta viajou pela África, Oceania, China e Japão, entre 1544 e 1570, como soldado. Perdeu um olho lutando contra os mouros, em Celta. Naufragou no delta do rio Mekong, no Vietnam, mas salvou o manuscrito do poema a nado |
O leste do leste
Apesar de parcos resultados na luta contra os mouros, as navegações deram mais de 150 anos de expansão e glória. Ao voltar das Índias, em 1499, Vasco da Gama trouxe informações sobre regiões remotas onde as especiarias eram mais baratas: a Taprobana (Ceilão), Málaca (na Malásia), Molucas, Sumatra e Timor (na Indonésia), Macau (na China) e, mais longe ainda, o Japão.
Não se intimidaram nem um pouco. "Em pouco tempo havia portugueses metidos em rotas comerciais onde a Coroa nem sonhava em chegar", diz Jorge Flores, membro da Comissão Portuguesa dos Descobrimentos. "Só vendendo pimenta de Málaca, na China, ganhavam 400%." Viajavam por conta própria, estabeleciam pequenas feitorias (entrepostos comerciais), casavam e viviam entre os nativos. A miscigenação garantiu a colonização e a presença lusitana, do Brasil à China.
 foto: Institito Geográfico de Agostini-Novara |
Biombo do século XVI mostra a chegada dos portugueses ao Japão |
Em 1543, três comerciantes chegaram por conta própria na ilha Tanegashima, no Japão. Trocaram seda, prata e porcelana chinesas por laca e biombos japoneses. Logo atrás deles, vieram os jesuítas e Nagasaqui virou uma cidade católica. O português deu várias palavras ao idioma japonês: obrigado (arigato), botão (botan), vaca (waca), cadeira (kantera), vidro (bidro).
Em 1580, tudo começou a desmoronar, quando o rei D. Sebastião desapareceu numa batalha, no Marrocos, sem deixar herdeiros. Portugal uniu-se à Espanha. Em 1588, os espanhóis organizaram a maior frota naval de todos os tempos para invadir a Inglaterra. Mas a Invencível Armada foi derrotada no Canal da Mancha. Com ela, naufragaram os melhores navios portugueses. Depois, o mar mudou de dono.
Para saber mais
De Ceuta a Timor. Luiz Felipe Thomaz, Lisboa, Difel, 1995.
O Império Marítimo Português: 1415-1825. C.R. Boxer, Lisboa, Edições Presença, 1988