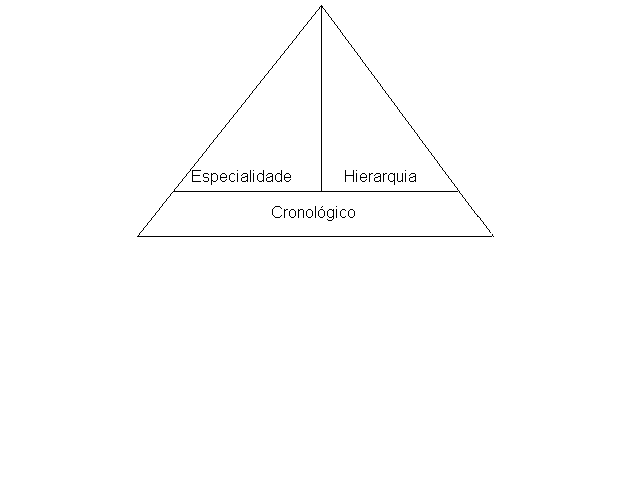Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Ciências Jurídicas
Disciplina: Direito Civil I
Professor: Alexandre Ramos
Acadêmico: Carlos Renato Silvy Teive
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Brasília:
Editora Universidade de
Brasília, 6ª ed., 1995.
Da norma jurídica ao ordenamento jurídico
Este livro tem como escopo basilar estudar a norma jurídica,
não isoladamente, mas a partir do enfoque do ordenamento jurídico,
isto é, estudá-la dentro do conjunto de normas. A palavra
“direito” pode ser utilizada tanto com o sentido de uma norma jurídica
particular como, também, de um determinado conjunto de normas jurídicas,
porém os problemas gerais do direito foram tradicionalmente estudados
do ponto de vista da norma jurídica, isto é, a norma jurídica
era a única perspectiva através da qual o Direito era estudado,
e que o ordenamento jurídico era no máximo um conjunto de
normas, mas não um objeto autônomo de estudo, com seus problemas
particulares e diversos.
É indubitável, que uma definição
satisfatória do Direito só é possível se nos
colocarmos do ponto de vista do ordenamento jurídico. No conjunto
das tentativas realizadas para caracterizar o Direito através de
algum elemento da norma jurídica, consideraríamos sobretudo
quatro critérios: 1. critério formal; 2. critério
material; 3. critério do sujeito que põe a norma; 4. critério
do sujeito ao qual a norma se destina.
Sob o prisma do critério formal entendemos aquele pelo
qual se acredita poder ser definido o que é o Direito através
de qualquer elemento estrutural das normas que se costuma chamar de jurídicas.
No que concerne à estrutura, as normas podem distinguir-se em: positivas
ou negativas; categóricas ou hipotéticas; gerais (abstratas)
ou individuais (concretas). Desta maneira, a primeira e a terceira distinções
não oferecem nenhum elemento caracterizador do Direito porque em
qualquer sistema normativo encontramos tanto normas positivas quanto negativas,
tanto normas gerais quanto individuais. No que diz respeito à segunda
distinção admitimos, também, que num sistema normativo
existem apenas normas hipotéticas.
No que tange ao critério material, entendemos aquele critério
que se poderia extrair do conteúdo das normas jurídicas,
isto é, das ações reguladas.
Sobre o critério do sujeito que põe a norma, queremos
nos referir à teoria que considera jurídicas as normas postas
pelo poder soberano, entendendo-se por “poder soberano” aquele acima do
qual não existe, num determinado grupo social, nenhum outro, e que,
como tal, detém o monopólio da força. Se é
verdade que um ordenamento jurídico é definido através
da soberania, é também verdade que a soberania em uma determinada
sociedade se define através da soberania, é também
verdade que a soberania em uma determinada sociedade se define através
da soberania, é também verdade que a soberania em uma determinada
sociedade se define através do ordenamento jurídico. Poder
soberano e ordenamento jurídico são dois conceitos que se
referem um ao outro.
Sobre o critério do sujeito ao qual a norma é destinada
pode apresentar duas variantes, conforme se considere como destinatário
o súdito ou o juiz. Se considerarmos a primeira hipótese,
a afirmação de que a norma jurídica é dirigida
aos súditos é inconcludente por sua generalidade, pois a
norma só é válida mediante um alicerssamento na sanção,
isto é, através da sanção é que há
o sentimento de obrigatoriedade. O sentimento de obrigatoriedade é
em última instância o sentimento de que aquela norma singular
faz parte de um organismo mais complexo e que da pertinência a esse
organismo é que vem seu caráter específico. Analisando
acuidamente a segunda alternativa, é mister vislumbrar que a definição
de juiz só é possível apliando o foco de estudo, isto
é, não ficando restrito à norma, mas levando em consideração
todo o ordenamento jurídico, pois o juiz não foi designado
por Deus a fim de dirimir os litígios entre os súditos, mas,
no Estado Moderno, o juiz, um funcionário do Estado, tem todo um
conjunto de normas (ordenamento jurídico) que o qualificam como
tal e que validam suas decisões.
Sob à égide dos argumentos expostos, definir-se-á
a norma jurídica como aquela norma “cuja execução
é garantida por uma sanção externa e institucionalizada”.
Aplicando-se um silogismo torna-se lógico definir o Direito não
a partir de uma norma singular, mas tendo em vista todo o ordenamento jurídico,
pois se sanção jurídica é só a institucionalizada,
isso significa que, para que haja Direito, é necessário que
haja, grande ou pequena, uma organização, isto é,
um completo sistema normativo. Só em uma teoria do ordenamento o
fenômeno jurídico encontra sua adequada explicação.
No que concerne à sanção e à norma
é oportuno destacar que se partindo da consideração
da norma jurídica, não existem normas sem sanção,
pois se a sanção faz parte do caráter essencial das
normas jurídicas, as normas sem sanção não
são normas jurídicas. Porém, se considerarmos todo
o ordenamento jurídico, “quando se fala de uma sanção
organizada como elemento constitutivo do Direito nos referimos não
às normas em particular, mas ao ordenamento normativo tomado em
seu conjunto, razão pela qual dizer que a sanção organizada
distingue o ordenamento jurídico de qualquer outro tipo de ordenamento
não implica que todas as normas daquele sistema sejam sancionadas,
mas somente que o são em sua maoiria”. Este exemplo serve para elucidar
que muitos problemas que se encontram no plano da norma singular encontram
solução mais satisfatória no plano do ordenamento.
Outro aspecto relevante no tocante ao ordenamento é a
pluralidade de normas, isto é, um ordenamento é constituído
por várias normas de dois tipos: de conduta e de estrutura. A primeira
tipologia engloba as normas que prescrevem as condutas que as pessoas devem
ter. A segunda tipologia incorpora as normas que prescrevem as condições
e os procedimentos através dos quais emanam normas de conduta válidas.
Seguindo esta lógica de pensamento, isto é, que
um ordenamento jurídico é composto por várias normas
é importante destacar também os problemas que há no
ordenamento jurídico. A título elustrativo, podemos destacar
as antinomias jurídicas e as lacunas do Direito que serão
melhor explicadas no decorrer deste trabalho.
A unidade do ordenamento jurídico
O ordenamento jurídico é composto de uma infinidade
de normas e mesmo assim continuam se fazendo normas amiudamente a
fim de adequar o direito à realidade social. Em virtude deste paradigma,
as normas não derivam de uma única fonte, mas de várias.
Por isso o ordenamento jurídico é um sistema complexo e não
simples.
A complexidade de um ordenamento jurídico deriva do fato
de que a necessidade de regras de conduta numa sociedade é tão
grande que não existe nenhum poder em condições de
satisfazê-la sozinho. Para vir ao encontro dessa exigência,
o poder supremo recorre geralmente a dois expedientes: 1) A recepção
de normas já feitas, produzidas por ordenamentos diversos e precedentes.
2) A delegação do poder de produzir normas jurídicas
a poderes ou órgãos inferiores. Por esses motivos, em cada
ordenamento, ao lado da fonte direta temos fontes indiretas que podem ser
distinguidas nestas duas classes: fontes reconhecidas e fontes delegadas.
A título ilustrativo, pode-se destacar os regulamentos com relação
à Lei. A basilar diferença que existe entre as leis e os
regulamentos é que a produção destes é confiada
geralmente ao Poder Executivo por delegação do Poder Legislativo
e uma de suas funções é a de integrar leis muito genéricas,
que contém somente diretrizes de princípio e não poderiam
ser aplicadas sem serem ulteriormente especificadas. Conforme se vai subindo
na hierarquia das fontes, as normas tornam-se cada vez menos numerosas
e mais genéricas; descendo ao contrário, as normas tornam-se
cada vez mais numerosas e mais específicas.
As “fontes do direito” são aqueles fatos ou atos dos quais
o ordenamento jurídico faz depender a produção de
normas jurídicas. O ordenamento jurídico, além de
regular o comportamento das pessoas, regula também o modo pelo qual
se devem produzir as regras, isto é, normas para a produção
de outras normas: é a presença e freqüência dessas
normas que constituem a complexidade do ordenamento jurídico.
A classificação das normas de estrutura é
muito mais complexa do que a classificação das normas de
conduta. As normas de conduta estão classificadas em: permissivas,
proibitivas e permissivas. As normas de estrutura estão classificadas
em: normas que mandam ordenar; normas que proíbem ordenar; normas
que permitem ordenar; normas que mandam proibir; normas que proíbem
proibir; normas que permitem proibir; normas que mandam permitir; normas
que proíbem permitir; normas que permitem permitir.
A complexidade do ordenamento jurídico não exclui
sua unidade. Com o escopo de justificar essa afirmação, é
mister se calcar na teoria da construção escalonada do ordenamento
jurídico, elaborada por Kelsen. Urge destacar nesta teoria que as
normas de um ordenamento não estão todas no mesmo plano.
Há normas superiores e inferiores. As inferiores dependem das superiores.
No topo da pirâmide existe uma norma suprema, que não depende
de nenhuma outra norma superior, e sobre a qual repousa a unidade do ordenamento.
Essa norma suprema é a norma fundamental. A norma fundamental é
o termo unificador das norma que compõem um ordenamento jurídico.
Outro aspecto a ser vislumbrado na hierarquia do ordenamento
jurídico são o termos produção e execução
jurídica. Esses termos estão relacionados com o poder e o
dever, isto é, eles são termos correlatos. Enquanto a produção
jurídica é a expressão do poder (originário
ou derivado), a execução revela o cumprimento de um dever.
Uma norma que atribui a uma pessoa ou órgão o poder de estabelecer
normas jurídicas atribui ao mesmo tempo a outras pessoas o dever
de obedecer. Dessarte chama-se poder a capacidade que o ordenamento jurídico
atribui a uma pessoa em colocar em prática obrigações
em relação a outras pessoas; chama-se dever a atitude a qual
está submetido àquele sujeito ao poder. Desta forma se olharmos
de cima para baixo, na pirâmide veremos uma série de processos
de produção jurídica; se olharmos de baixo para cima
veremos, ao contrário, uma série de processos de execução
jurídica.

À medida que se avança de cima para baixo na pirâmide,
o poder normativo é sempre mais circunscrito. Os limites com que
o poder superior restringe e regula o poder inferior são de dois
tipos distintos: relativos ao conteúdo; relativos à forma,
isto é, limites materiais e limites formais. Os dois limites podem
ser impostos contemporaneamente; mas em alguns casos pode haver um sem
o outro.
No que concerne aos limites formais, são constituídos
por todas aquelas normas da Constituição que prescrevem o
modo de funcionamento dos órgãos legislativos.
Se existem norma constitucionais, deve existir o poder normativo
do qual elas derivam: esse poder é o poder constituinte. Porém,
há uma norma que atribuí ao poder constituinte a faculdade
de produzir normas jurídicas, essa norma é a norma fundamental.
A norma fundamental não é expressa, mas nós a pressupomos
para fundar o sistema normativo, isto é, a norma jurídica
que produz o poder constituinte é a norma fundamental. Essa norma
fundamental, mesmo não-expressa, é o pressuposto da nossa
obediência às leis que derivam da Constituição.
A norma fundamental é o critério supremo que permite estabelecer
se uma norma pertence a um ordenamento; em outras palavras, é o
fundamento de validade de todas as normas do sistema. Portanto, não
só a exigência de unidade do ordenamento mas também
a exigência de fundamentar a validade do ordenamento nos induzem
a postular a norma fundamental.
A norma fundamental estabelece que é preciso obedecer
ao poder originário, isto é, ao conjunto das forças
políticas que num determinado momento histórico tomaram o
domínio e instauraram um novo ordenamento jurídico.
A coerência do ordenamento jurídico
A próxima questão no que tange ao ordenamento jurídico
é que se além de uma unidade, ele constitui também
um sistema, ou seja, se constitui uma totalidade ordenada. Para que se
possa falar de uma ordem, é necessário que os entes que a
constituem não estejam somente em relacionamento com o todo, mas
também num relacionamento de coerência entre si. Porém,
é indubitável que num ordenamento jurídico complexo
possam existir normas produzidas por uma fonte em contraste com normas
produzidas por outra, pois o ordenamento jurídico é caracterizado
pela pluralidade das fontes. Com o escopo de resolver esta questão
a fim de que o ordenamento jurídico constitua um sistema não
podem coexistir nele normas incompatíveis. Se num ordenamento vêm
a existir normas incompatíveis, uma das duas ou ambas devem ser
eliminadas. Desta forma no ordenamento jurídico é aplicado
o princípio da compatibilidade, ou seja, para se considerar o enquadramento
de uma norma no sistema não bastará mostrar a sua derivação
de uma das fontes autorizadas, mas será necessário também
mostrar que ela não é incompatível com outras normas.
Neste sentido, nem todas as normas produzidas pelas fontes autorizadas
seriam normas válidas, mas somente aquelas compatíveis com
as outras.
A ocorrência de normas incompatíveis entre si é
uma dificuldade tradicional frente à qual se encontram os juristas
de todos os tempos, e teve uma denominação própria
característica: antinomia. É possível vislumbrar antinomia
em três casos: 1) entre uma norma que ordena fazer algo e uma norma
que proíbe fazê-lo (contrariedade); 2) entre uma norma que
ordena fazer e uma que permite fazer (contraditoriedade); 3) entre uma
norma que proíbe fazer e uma norma que permite fazer (contraditoriedade).
Porém, é condição sine qua non, ainda para
ocorrer a antinomia duas condições. A primeira, que as duas
normas devem pertencer ao mesmo ordenamento. A segunda, que as duas normas
devem ter o mesmo âmbito de validade, ou seja, não constituem
antinomia duas normas que não coincidem com respeito a: validade
temporal; a validade espacial; a validade espacial; a validade pessoal;
a validade material.
Ainda no tocante à antinomia, há três tipologias
de antinomia, conforme a maior ou menor extensão do contraste entre
as duas normas: 1) se as duas normas incompatíveis têm igual
âmbito de validade; 2) se as duas normas incompatíveis têm
âmbito de validade em parte igual e em parte diferente; 3) se, de
duas normas incompatíveis, uma tem um âmbito de validade igual
ao da outra, porém mais restrito, ou seja, se o seu âmbito
de validade é, na íntegra, igual a uma parte do da outra,
a antinomia é total por parte da primeira norma com respeito à
segunda, e somente parcial por parte da segunda com respeito à primeira.
Seguindo a explicação das antinomias, até
agora foi discorrido sobre suas tipologias e também o que vinham
propriamente a ser. Porém, não foi explicado como se deve
resolver esse entrave no ordenamento jurídico. É mister destacar
que há casos que as antinomias são solúveis, por seu
turno, existem casos que as antinomias são insolúveis. As
razões pelas quais nem todas as antinomias são solúveis
são duas: 1) há casos nos quais não se pode aplicar
nenhuma das regras pensadas para a solução das antinomias;
2) há casos em que se podem aplicar ao mesmo tempo duas ou mais
regras em conflito entre si. São denominas as antinomias solúveis
de aparentes e as insolúveis de reais. Desta forma, denomina-se
de antinomias reais aquelas em que o intérprete é abandonado
a si mesmo ou pela falta de um critério ou por conflito entre os
critérios dados.
Os critérios fundamentais para a solução
das antinomias são três: 1) o critério cronológico;
2) o critério hierárquico; 3) o critério da especialidade
O critério cronológico é aquele que diz
que entre duas normas incompatíveis prevalece a norma posterior.
O critério hierárquico é aquele no qual,
entre duas normas incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior.
O critério da especialidade é aquele pelo
qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial prevalece
a segunda.
Outro aspecto a ser vislumbrado no tocante às antinomias,
está na hierarquias dos critérios de resoluções
das antinomias de segundo grau.
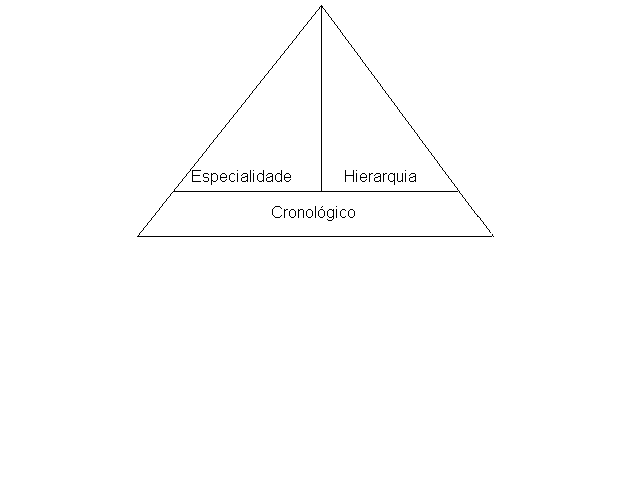
Desta forma, se há um conflito entre os critérios
hierárquico e cronológico: prevalece o hierárquico.
Se há conflito entre os critérios cronológico e de
especialidade: prevalece o da especialidade. Se há conflito entre
os critérios hierárquico e da especialidade: não há
regra específica.
Outra hipótese a ser destacada é a da insuficiência
de critérios, ou seja, quando os critérios da especialidade,
da hierarquia e o cronológico não forem suficientes para
resolverem uma antinomia, pode-se resolver a questão através
da forma da norma. Segundo a forma: imperativas, proibitivas e permissivas.
Se de duas normas incompatíveis uma é imperativa
ou proibitiva e a outra é permissiva, prevalece a permissiva. O
problema real, frente ao qual se encontra o intérprete, não
é o de fazer prevalecer a norma permissiva sobre a imperativa ou
vice-versa, mas sim o de qual dos dois sujeitos da relação
jurídica é mais justo proteger.
No conflito entre duas normas incompatíveis, há,
com relação à forma das duas normas, um outro caso:
aquele em que uma das duas normas é imperativa e a outra proibitiva.
No caso de duas normas contrárias, isto é, entre uma norma
que obriga fazer algo e uma norma que proíbe fazer a mesma coisa,
essas duas normas anulam-se reciprocamente e, portanto, o comportamento,
em vez de ser ordenado ou proibido, se considera permitido ou lícito.
A completude do ordenamento jurídico
Por “completude” entende-se a propriedade pela qual um ordenamento
jurídico tem uma norma para regular qualquer caso, ou seja, “completude”
significa “falta de lacunas”. A incompletude consiste no fato de que o
sistema não compreende nem a norma que proíbe um certo comportamento
nem a norma que o permite.
Outro aspecto a ser ressaltado no tocante à completude
, é o fato de tanto a completude quanto a coerência, ambas
buscam a unidade. A coerência significa a exclusão de toda
a situação na qual pertençam ao sistema ambas as normas
que se contradizem; a completude significa a exclusão de toda a
situação na qual não pertençam ao sistema nenhuma
das duas normas que se contradizem.
É indubitável que não existe em nenhum lugar
do mundo concreto um ordenamento jurídico completo, ou seja, sem
nenhuma lacuna, pois seria uma utopia pensar que um grupo seleto
de pessoas teriam o condão de prescrever todos os casos concretos
que existem e que possam existir nas relações sociais. Desta
forma, é impossível que se possa esperar na práxis
a completude do ordenamento jurídico.
Porém, ao se analisar com acuidade os fatos pretéritos
é possível vislumbrar que pessoas tenham tentado tal façanha.
Com o advento do positivismo jurídico e o início da codificação,
os juristas pensavam que o direito fosse algo estático. Desta forma,
eles fundaram a escola da exegese na qual defendia apenas uma interpretação
da norma que estava no código, por parte do juiz, a fim de adequar
o fato concreto à norma. Essa concepção de direito
é fortemente impulsionada com o fortalecimento do Estado Moderno,
que busca considerar que o único direito é o estatal. O dogma
da completude caminha no mesmo passo que a monopolização
do Direito por parte do Estado.
Como reação à essa linha de pensamento,
sucedeu a escola científica que defendia que os juristas não
deveriam ficar tão restritos à lei. Essa reação
aconteceu em virtude da mudança de paradigma da sociedade proporcionada
pela Revolução Industrial, isto é, aquelas leis que
precederam a revolução não contemplavam mais as nova
relações sociais que surgiram. A titulo ilustrativo poder-se-ia
destacar os contratos de trabalho entre patrões e assalariados,
que não estavam devidamente regulamentados. Porém, com o
progresso da indústria foi necessária a regulamentação.
Desta forma os juristas perceberam a volaticiedade do direito e a necessidade
de admitir-se as lacunas da lei e que somente o Direito livre estava em
condições de preencher as lacunas da legislação.
Em meio àquelas posições antagônicas,
os que defendem a visão positivistas argüíram que a
completude do ordenamento não era um mito, mas uma exigência
de justiça; não era uma função inútil,
mas uma defesa útil de um dos valores supremos a que deve servir
a ordem jurídica, a certeza. Com o escopo de suplementar suas ideologias,
os positivistas disseram que não existem lacunas no ordenamento,
mas apenas espaço jurídico vazio. Toda norma jurídica
representa uma limitação à livre atividade humana;
fora da esfera regulada pelo Direito, o homem é livre para fazer
o que quiser. Desta forma, até onde o Direito alcança com
as suas normas, evidentemente não há lacunas; onde não
alcança há espaço jurídico vazio e, portanto,
não a lacuna do Direito, mas a atividade indiferente ao Direito.
Esses positivistas sustentaram que não há lacunas porque,
onde falta o ordenamento jurídico, falta o próprio Direito
e, portanto, deve-se falar mais propriamente de limites do ordenamento
jurídico do que de lacunas. Outros juristas da mesma vertente no
que concerne à completude do ordenamento jurídico sustentaram
que não há lacunas pela razão inversa, isto é,
pelo fato de que o Direito nunca falta. Uma norma que regula um comportamento
não só limita a regulamentação e, portanto,
as conseqüências jurídicas que desta regulamentação
derivam para aquele comportamento, mas ao mesmo tempo exclui daquela regulamentação
todos os outros comportamentos, isto é, todos os comportamentos
não-compreendidos na norma particular são regulados por uma
norma geral exclusiva. Enquanto para a primeira vertente positivista a
atividade humana está dividida em dois campos, um regulado por normas
e outro não regulado, para essa segunda teoria toda a atividade
humana é regulada por normas jurídicas, porque aquela que
não cai sob as normas particulares cai sob as gerais exclusivas.
Outro aspecto a ser abordado no que tange às lacunas está
nas tipologias destas, isto é, se pode falar de lacunas no ordenamento
jurídico ou de incompletude do ordenamento jurídico: não
no sentido de falta de uma norma a ser aplicada, mas de falta de critérios
válidos para decidir qual norma deve ser aplicada. Entende-se também
por “lacuna” a falta não já de uma solução,
qualquer que seja ela, mas de uma solução satisfatória,
a falta de uma norma justa. Essas lacunas derivam não da consideração
do ordenamento jurídico como ele é, mas da comparação
entre ordenamento jurídico como ele é e como deveria ser,
foram chamadas de ideológicas. Desta forma, nascem as lacunas próprias
e impróprias. A lacuna própria é uma lacuna do sistema
ou dentro do sistema; a lacuna imprópria deriva da comparação
do sistema real com um sistema ideal. As lacunas impróprias somente
podem ser eliminadas através da formulação de novas
normas, e as próprias, mediante as leis vigentes. As lacunas impróprias
são completáveis somente pelo legislador; as lacunas próprias
são completáveis por obra do intérprete.
Com respeito aos motivos que as provocaram, as lacunas distinguem-se
em subjetivas e objetivas. Subjetivas são aquelas que dependem de
algum motivo imputável ao legislador, objetivas são aquelas
que dependem do desenvolvimento das relações sociais, das
novas invenções, de todas aquelas causas que provocam um
envelhecimento dos textos legislativos e que portanto, são independentes
da vontade do legislador.
O ordenamento jurídico, estaticamente considerado, não
é completo a não ser pela norma geral exclusiva; dinamicamente
considerado é completável. Para se completar um ordenamento
jurídico pode-se recorrer a dois métodos diferentes: heterointegração
e auto-integração.
O primeiro método consiste na integração
operada através do: recurso a ordenamentos diversos e recurso a
fontes diversas daquela que é dominante. O segundo método
consiste na integração cumprida através do mesmo ordenamento,
no âmbito da mesma fonte dominante, sem recorrência a outros
ordenamentos e com o mínimo recurso a fontes diversas da dominante.
O método mais importante de heterointegração,
entendida como recurso a outra fonte diferente da legislativa, é
o recurso, em caso de lacuna da Lei, ao poder criativo do juiz, quer dizer,
ao assim chamado Direito judiciário.
O método de auto-integração baseia-se, principalmente,
em dois procedimentos: analogia e os princípios gerais do direito.
Entende-se por analogia o procedimento mediante pelo qual se
explica a assim chamada tendência de cada ordenamento jurídico
a expandir-se além dos casos expressamente regulamentados. O raciocínio
por analogia foi estudado pelos lógicos. A fórmula do raciocínio
por analogia pode ser expressa esquematicamente assim:
M é P
S é semelhante a M
S é P
Para que se possa tirar a conclusão, quer dizer, para fazer
a atribuição ao caso não-regulamentado das mesmas
conseqüências jurídicas atribuídas ao caso regulamentado
semelhante, é preciso que entre os dois casos exista não
uma semelhança qualquer, mas uma semelhança relevante.
Outro aspecto a ser elucidado no que concerne à analogia,
se encontra no cotejamento entre interpretação extensiva
e analogia. A basilar diferença que há é que a interpretação
extensiva deve ser aplicada quando não há uma lacuna, ou
seja, a lei fala menos do que deveria dizer, desta forma não se
cria uma nova norma, apenas expande a já existente. A analogia é
aplicada quando está frente à uma lacuna e desta forma é
mister criar-se uma nova norma com o escopo de regulamentar o fato não
prescrito no ordenamento.
Os princípios gerais do direito é também
conhecido por analogia iuris. Os princípios gerais são apenas
normas fundamentais ou generalíssimas do sistema. O autor defende
a idéia de que os princípios gerais são normas como
todas as outras. Com o objetivo de defender este posicionamento, ele argüi
que dois motivos: antes de mais nada, se são normas aquelas das
quais os princípios gerais são extraídos, através
de um procedimento de generalização sucessiva, não
se vê por que não devam ser normas também eles. Em
segundo lugar, a função para qual são extraídos
e empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto é,
a função de regular um caso.
As relações entre os ordenamentos jurídicos
Até o momento foi discorrido problemas internos do ordenamento
jurídico, como: antinomias, lacunas, hierarquia. Porém, outro
aspecto a ser abordado na Teoria do ordenamento Jurídico é
o problema das relações entre os ordenamentos.
O ideal do ordenamento jurídico único persistiu
no pensamento jurídico ocidental. O prestígio do Direito
romano e do Direito natural, determinaram o surgimento e a duração
da ideologia de um único Direito universal.
De forma antagônica ao pensamento universalista do Direito,
surge o pluralismo jurídico alicerçado em duas vertentes.
A primeira forma de pluralismo – escola histórica - tem caráter
estatalista, pois para eles ao direito natural e único, comum a
todos os povos, se contrapõem tantos Direitos quantos são
os povos ou as nações. A segunda fase do pluralismo jurídico
é aquela que podemos chamar de institucional que significa não
somente que há muitos ordenamentos jurídicos em contraposição
ao Direito universal único, mas há ordenamentos jurídicos
de muitos e variados tipos. Aceitando a teoria pluralista institucional,
o problema do relacionamento entre ordenamentos não compreende mais
somente o problema das relações estatais, mas também
o das relações entre ordenamentos estatais e ordenamentos
diferentes dos estatais.
Como as normas de um ordenamento podem ser dispostas em ordem
hierárquica, nada exclui que os vários ordenamentos estejam
num relacionamento entre si de superior para inferior. O relacionamento
entre eles pode ser de coordenação ou de subordinação.