

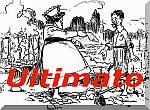
SEÇÃO II
» 3ª Unidade: Ultimato
Por Antônio Rogério da Silva
A noção de equidade (fairness) é fundamental para compreensão da tese central da Teoria da Justiça de John Rawls (1921-2002). É também um dos conceitos chaves do modelo de jogo do Ultimato. Ao longo de sua vida, Rawls trabalhou a idéia de equidade como uma concepção de justiça onde a sociedade foi interpretada como um sistema de cooperação social que deve passar de geração em geração. Trata-se de uma teoria que carrega de pressupostos uma interface de alto nível que obriga a tecer a trama de uma intricada rede de argumentos para justificar aquilo que pode ser facilmente abordado da maneira deflacionada como os modelos de jogos analisa a possibilidade de cooperação entre os agentes (1).
Uma das gratas surpresas que os filósofos têm, ao examinar modelos de jogos como Ultimato, está na possibilidade de trabalhar conceitos tão caros para as principais teorias filosóficas sem se comprometer com todo um conjunto de enunciados que frequentemente produzem uma sucessão infinita de proposições que acabam por gerar inconsistência na argumentação. A satisfação é maior, sobretudo, quando se percebe que a intuição da equidade está presente em vários tipos de agrupamentos políticos e não apenas entre os países de regime democrático.
A despeito de ser uma tendência genética ou não, o fato da noção de equidade ser notada em sociedades além das fronteiras ocidentais colabora no sentido de reforçar a defesa da cooperação como um sistema adequado para o convívio humano. A teoria econômica tende a evitar que concepções morais distorçam as conclusões que são extraídas de conceitos e princípios formalizados de maneira mais precisa possível. Já em Lutas, Jogos e Debates (1960), Anatol Rapoport se viu contrangido ao tecer análises sobre a racionalidade dos agentes no Dilema dos Prisioneiros valorizando a cooperação por levar ambos os jogadores a uma recompensa conjunta, ao invés de uma deserção prejudicial a todos: "Quase que posso ouvir um coro de risadas. Deixei que a moralidade temperasse a razão (...)" (2).
Até aquele estágio de desenvolvimento da teoria dos jogos - no início dos anos 1960 - os pesquisadores não se preocupavam em alinhar suas descobertas formais com provas contrafactuais. Nenhum teste empírico era exigido à tentativa de montar um conjunto sólido de axiomas que orientassem a proposição de normas para escolhas estratégicas apoiadas exclusivamente em uma lógica própria. Contudo como o próprio Rapoport havia notado, o comportamento humano dificilmente se deixaria moldar pelas diretrizes sugeridas pelos teóricos. Isso porque a maneira com pela qual procuravam agir ou tomar decisões nem sempre eram lógicas ou ponderadas.
(...) Tais normas não são lógicas, e sim arbitrárias, e podem ser extremamente variadas. Deste ponto em diante, portanto, não pode haver uma única teoria dos jogos, mas sim uma grande variedade de tais teorias, cada qual baseada em normas diversas. Aqui, o cientista experimental deveria naturalmente entrar em cena para explorar as normas que atuam na realidade nos assuntos humanos (RAPOPORT, A. Lutas, Jogos e Debates, part. II, cap. XIII, p. 171).
Na prática, o que aconteceu com os jogos evolutivos e a teoria da cooperação subsequente foi a transformação da teoria dos jogos em poderosa ferramenta de análise de situações empíricas, onde interesses em parte conflitantes, em parte convergentes entravam em interação. Desse modo, testes psicológicos e antropológicos puderam avaliar a extensão e presença dos conceitos morais nas relações humanas. Foi quando a reciprocidade, a confiança e a equidade puderam ser delineadas e destacadas por meio das simulações com modelos de jogos repetidos, começando pelo Dilema dos Prisioneiros.
A pesquisa em torno do conceito de equidade ganhou impulso depois que Werner Güth e seus colegas iniciaram as análises experimentais do jogo do Ultimato, em 1982. Na última década do século XX, essa investigação abordou o assunto sob os vários ângulos possíveis. Das diversas pesquisas realizadas, extraíu-se a compreensão de que uma média de 60 a 80 porcento das ofertas feitas estavam na faixa de 40 a 50 porcento do montante disponibilizado para o receptor e que algo entre três a cinco porcento ficava abaixo de 20 porcento, geralmente recusados. De acordo com a teoria econômica, não haveria motivos para temer tal rejeição, pois mesmo um centavo ganho seria melhor do que nada.
Não obstante, onde quer que tenha sido jogado, o mesmo padrão de comportamento fora observado. A explicação para isso foi que, nos encontros entre pessoas de uma mesma comunidade, os jogadores eram obrigados a levarem em consideração não apenas seus próprios interesses, mas o daquele que estava envolvido na divisão. Assim, as demandas do outro também teriam de ser consideradas igualmente. Karl Sigmund resume as explicações dos teóricos sobre esse comportamento desviante como uma dificuldade que as pessoas teriam para entender que o jogo será disputado apenas em um lance para cada jogador e não como parte de um processo de barganha semelhante aqueles experimentados pela humanidade desde a pré-história (3).
No passado distante, havia a dependência dos caçadores e coletores do apoio de vários integrantes na busca por alimento. Por causa disso, a preocupação com o grupo teria sido consolidada entre os seres humanos, o que explicaria a persistência de ofertas mais altas. Por outro lado, a recusa frequente de propostas de divisão baixas teria condicionado os líderes a fazerem ofertas maiores. Desse modo, a marcação da rejeição com respostas emocionais - indignação, vergonha, injúria e vingança - ajudaria a formação de uma reputação em quem não aceitasse esmolas ou migalhas, beneficiando-lhe em futuras negociações. Tudo isso para reforçar a idéia de que sentimentos morais e concepções de justiça e equidade estão entrelaçados na solução de problemas econômicos cotidianos.
Padrões éticos e sistemas morais diferem entre culturas, mas podemos presumir que estes são baseados em capacidades universais biologicamente enraizados; do mesmo modo como centenas de linguagens diferentes são baseadas no mesmo instinto de linguagem universal. (...) [T]emos investigado um estágio onde podemos formalizar tais idéias em modelos de jogos teóricos e testá-los experimentalmente (SIGMUND, K. "The Economics of Fairness", p. 5).
Independente de serem ambientais ou genéticos, os valores morais dos indivíduos precisam ser mobilizados, a fim de se atingir um resultado que satisfaça os interesses dos participantes da interação, cada um sendo obrigado a levar em conta a reação do outro. Ao ter de considerar igualmente os concernidos, os aspectos fundamentais da moral também deverão ser observados por quem tem de tomar uma decisão eficaz. Caso contrário, as chances de conseguir um melhor resultado no futuro são reduzidas à habilidade de cada um obter por si mesmo aquilo que precisa, em um estado de natureza, exposto ao conflito permanente. Fatores como a preservação da reputação, no jodo do Ultimato, proporcionam a emersão da equidade como a probabilidade maior de recompensa, do que a tentativa meramente racional de atingir o equilíbrio perfeito, mas injusto. Esse fato fica ainda mais evidente quando estão disponíveis as informações sobre o tipo do receptor. E mesmo que a estratégia equitativa não seja a recomendada pela racionalidade econômica, sua implementação acaba por fomentar as trocas comerciais.
Isso bem concorda com as descobertas sobre a emergência da cooperação ou do comportamento negociador. Reputação baseada na comunicação e em compromisso desempenham um papel essencial na história natural da vida econômica (NOWAK, M. A., PAGE, K. M. & SIGMUND, K. "Fairness versus Reason in the Ultimatum Game", p. 1774).
Justiça e Equidade
Desde Uma Teoria da Justiça (1971) até o final de sua vida John Rawls defendeu a noção de justiça como equidade, tendo em mente a existência, pelo menos em sociedades ocidentais, de "um sistema equitativo de cooperação social que se perpetua de uma geração para a outra" (4). Nesse sistema de cooperação, cidadãos cooperadores, livres e semelhantes agiriam sob o mecanismo de uma sociedade já aparelhada para regular a justiça em seus domínios. A partir dessas intuições, característica de regimes democráticos, Rawls organizou sua teoria apoiado em três outras noções essenciais: existência de regras públicas aceitas pelos cooperadores; idéia de reciprocidade e a busca por vantagens racionais (5).
Além disso, Rawls passou a fazer a distinção entre razoabilidade e racionalidade, como necessária para evitar o tradicional problema filosófico de considerar inconsistente ou, por vezes, contraditória a ação do egoísta racional - efetivamente filósofos como Jürgen Habermas e Karl-Otto Apel tendem a considerar o carona, o lack of moral sense, um indivíduo que cometeria contradições performáticas ao agirem contra um acordo que antes houvesse considerado válido. Rawls admite que, em geral, não é irracional a violação de pactos, se for em benefício próprio, toda vez que se apresentasse oportunidade para tanto. Porém, a deserção poderia ser considerada irrazoável posto que...
(...) pessoas razoáveis são aquelas dispostas a propor, ou a reconhecer quando os outros o propõem, os princípios necessários para especificar o que pode ser considerado por todos como termos equitativos de cooperação. Pessoas razoáveis também entendem que devem honrar esses princípios mesmo à custa de seus próprios interesses se as circunstâncias o exigirem, desde que os outros também devam honrá-los (...) (RAWLS, J. Justiça como Equidade, part. I, § 2, 2.2, p. 9).
Depois que os princípios de justiça são propostos e reconhecidos como válidos pelos cooperadores, seria insensato não proceder de acordo com a estratégia cooperadora proposta, embora não fosse irracional violá-las para obter vantagens racionais. Posto neste termos, toda obra de Rawls é um esforço de aliar o kantismo de seres razoáveis, que aceitariam o imperativo categórico de seguir os princípios de justiça, e o contratualismo que prevê as ações racionais em função de um imperativo hipotético, que usa as normas como meio para atingir um fim e não como um dever ou compromisso, cuja violação acarretaria uma culpa moral ou, pelo menos, um erro cognitivo (insensatez).
Intuitivamente, John Rawls construiu sua teoria da justiça apoiada no mesmo conceito de reciprocidade detectado pelo modelos dos jogos baseados no Dilema dos Prisioneiros Iterado, onde a retaliação vem em seguida à deserção praticada pelo outro. Entre os agentes que rejeitam pequenas quantias, há a percepção de que ofertas que poderiam ter sido feitas de forma mais equitativas devem ser recusadas com mais frequência. Isso implicaria que as respostas dos receptores consideram não apenas as suas preferências, mas também as intenções do outro em ser visto como uma pessoa justa (6).
Pos trás da reciprocidade, haveria, então, um critério público de como cada um deveria se beneficiar da cooperação. Regras essas que são aceitas pelos cooperadores. Agentes que sabem reconhecer as vantagens racionais que os participantes podem tirar da distribuição justa dos recursos obtidos pela interação na qual participam. Rawls admitiu a possibilidade de tal concepção ser suficiente para o desenvolvimento de uma teoria de justiça adequada para as sociedades bem-ordenadas que imaginara. Sua hipótese ganhou plausibilidade com as descobertas recentes proporcionadas pelos testes de jogos como o Ultimato, realizado em vários tipos de agrupamentos humanos espalhados por todo mundo.
Evidente foi que, nas culturas pesquisadas, para se reproduzir um padrão de equidade como fora observado, deveria também de haver aquilo que Rawls chamava de justiça de fundo, ou seja, a estrutura básica econômica, reconhecimento da propriedade e relacionamentos familiares (7). Em suma, as condições de mercado ou interação comerciais cujo grau de desenvolvimento era proporcional ao maior número de ofertas equitativas (8).
Se a defesa que Rawls faz da democracia liberal, sustentada nesses pressupostos, pode ser oportunamente questionada, não obstante, seu ponto de partida, à primeira vista, parece está de acordo com as observações feitas pelos teóricos dos jogos atuais em testes de campo. A equidade emergiu nas interações entre agentes econômicos como uma propriedade decisiva da distribuição justa de recursos e como ponto focal para dirimir as disputas entre os participantes, embora esse não seja o único fator envolvido. A eficácia das soluções justas só se tornou possível devido à capacidade retaliadora dos agentes e a existência desse sinal claro de que uma divisão próxima do meio a meio pode ser vislumbrada pelas duas partes - no caso de jogos bimatriciais (2 x 2). Reciprocidade também aparece como um conceito chave não só para que a cooperação se sustente, mas que esta seja justa.
Uma vez mais o instrumento dos jogos permitem compreender como ocorre o estabelecimento das condições necessárias para o comportamento cooperador surgir nos seres humanos. Diferente das outras espécies, os seres humanos podem antecipar o futuro, observar o passado e alimentar sentimentos de vingança, vergonha, preservar sua reputação etc. Todas essas particularidades influenciam os resultados obtidos pelas pessoas em interação umas com as outras. De fato, seres humanos não agem apenas como agentes racionais egoístas - previstos tanto pela teoria econômica, como pela biologia evolutiva. Ao longo de sua evolução, a espécie Homo sapiens acumulou em seu código genético e nos registros históricos informações sobre estratégias que foram bem sucedidas no passado e por isso ficaram guardadas na memória, como aquelas como maior ou menor chance de êxito, dependendo das circuntâncias. Com base nessa experiência, intuitivamente ou conscientemente, as pessoas reagem em função das linhas de ação que se consolidaram como sendo as mais indicadas para maximização, não só dos interesses pessoais, mas considerando os interesses de outros semelhantes.
Durante um intenso debate filosófico - iniciado por Platão e estendido até Rawls - a definição de justiça variou sobre muitos aspectos. Contudo, desde os primeiros registros legais que remontam ao Código de Hamurabi, uma noção mínima de justiça vem sendo reforçada. A Regra de Ouro que expressa a noção primeira de reciprocidade encontrada nas mais diversas civilizações e povos vem se mantendo perene como principal conceito de justiça que força os humanos a incluírem a equidade nas suas formas de intercâmbio: faça ao outro aquilo que queira que faça a si mesmo.
Notas
1. Para um contato direto com o conceito filosófico e político de equidade, veja RAWLS, J. Justiça como Equidade, § 2, p. 7.
2. RAPOPORT, A. Lutas, Jogos e Debates, part. II, cap. X, p. 137.
3. Veja SIGMUND, K. "The Economics of Fairness", p. 2.
4. RAWLS, J. Justiça como Equidade, part. I, § 2, p. 7.
5. Veja RAWLS, J. Op. cit., part. I, § 2, pp. 8-9.
6. Veja FALK, A., FEHR, E. & FISCHBACHER, U. "On the Nature of Fair Behavior", I, p. 3.
7. Veja RAWLS, J. Idem, part. I, § 4, 4.1, pp. 13-14.
8. Veja HENRICH, J. et al. "In Search of Homo Economicus", p. 74.
« Antes: A Busca do Homem Econômico |
A seguir: A Construção de Jogos e sua Utilização Prática.» |
APEL, K-O. "O Desafio da Crítica Total da Razão e o Programa de uma Teoria Filosófica dos Tipos de Racionalidade", in Novos Estudos, nº23, março de 1989; trad. de Márcio Suzuki.
FALK, A., FEHR, E. & FISCHBACHER, U. "On the Nature of Fair Behavior". Disponível na Internet via http://www.iew.unizh.ch/grp/fehr. Arquivo consultado em 2002.
HABERMAS, J. Consciência Moral e Agir Comunicativo; trad. Guido A. de Almeida. – Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
HENRICH, J. et al. "In Search of Homo Economicus", in Economics and Social Behavior, vol. 91, nº2, pp. 73-78, mai 2001.
RAPOPORT, A. Lutas, Jogos e Debates; trad. Sérgio Duarte. – Brasília: UnB, 1980.
RAWLS, J. Uma Teoria da Justiça; trad. Carlos P. Correia. – Lisboa: Presença, 1993.
______. Justiça como Equidade; trad. Cláudia Berliner. – São Paulo: Martins Fontes, 2003.
SIGMUND, K. "The Economics of Fairness". Disponível na Internet via http://www.iiasa.ac.at. Arquivo consultado em 2003.