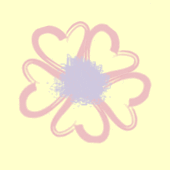
contato: ericazipba@yahoo.com.br OU sozinha22ba@yahoo.com.br (mensenger do yahoo)
Segue abaixo alguns artigos
A HISTORIA Da PSICOLOGIA
Erica BatistaAs antigas especulações sobre a alma e a capacidade intelectual do homem foram complementadas desde o século XIX por uma nova ciência, a psicologia, que estabeleceu métodos e princípios teóricos aplicáveis ao estudo e de grande utilidade no estudo e tratamento de diversos aspectos da vida e da sociedade humana.
Psicologia é a ciência dos fenômenos psíquicos e do comportamento. Entende-se por comportamento uma estrutura vivencial interna que se manifesta na conduta. O termo psicologia origina-se da junção de duas palavras gregas: psiché, "alma", e lógos, "tratado", "ciência".
A teoria psicológica tem caráter interdisciplinar por sua íntima conexão com as ciências biológicas e sociais e por recorrer, cada vez mais, a metodologias estatísticas, matemáticas e informáticas. Não existe, contudo, uma só teoria psicológica, mas sim uma multiplicidade de enfoques, correntes, escolas, paradigmas e metodologias concorrentes, muitas das quais apresentam profundas divergências entre si.
Nos últimos anos tem-se intensificado a interação da psicologia com outras ciências, sobretudo com a biologia, a lingüística, a informática e a neurologia. Com isso, surgiram campos de aplicação interdisciplinares, como a psicobiologia, a psicofarmacologia, a inteligência artificial e psiconeurolingüística
História
Períodos da história da psicologia. Há formas mais simples e outras mais elaboradas de se distinguirem as fases na história da psicologia. Uma forma simples consistiria em considerar dois grandes períodos: o filosófico-especulativo e o científico. O primeiro tem raízes no pensamento grego e se estende até o final do século XIX ou princípio do XX, conforme o critério escolhido para delimitação do começo da psicologia científica.
Como marco inicial do período científico poder-se-ia fixar um dentre dois momentos: a consagração do método experimental como procedimento possível e adequado à problemática psicológica -- caso em que Wilhelm Wundt seria seu iniciador --, ou o uso sistemático do conceito de comportamento como objeto da pesquisa -- e, nesse caso, estaria em evidência John B. Watson.
Os filósofos antigos, gregos e medievais procuravam, antes de tudo, dar resposta aos problemas fundamentais acerca da natureza da alma, sua relação com o corpo, seu destino depois da morte, a origem das idéias etc. Somente com o advento do espírito científico e, principalmente, com a constatação de que há possibilidade de encontrar fórmulas suficientemente precisas entre variação do estímulo físico, mudança fisiológica e reação psíquica, é que começou o trabalho pioneiro de Gustav Fechner, Hermann Helmholtz e Wilhelm Wundt: a psicofísica e a psicofisiologia.
Para Wundt, o objeto da psicologia era a consciência; entendia a ciência como estudo da estrutura ou das funções detectáveis na experiência interior, nos processos psíquicos de sensação, percepção, memória e sentimentos. A essa concepção da psicologia opuseram-se psicólogos científicos posteriores, em particular os behavioristas, para os quais só pode haver ciência a partir do que é externamente observável (no caso, o comportamento).
Principais escolas de psicologia. Uma das maneiras de classificar as especialidades em que se dividiu a psicologia é segundo os conteúdos examinados por cada área. Assim, as principais disciplinas psicológicas seriam a psicologia da sensação, da percepção, da inteligência, da aprendizagem, da motivação, da emoção, da vontade e da personalidade. Outra divisão possível se faz segundo o critério de examinar esses mesmos conteúdos quanto a sua relação com o funcionamento do organismo (psicologia fisiológica); ou quanto a sua manifestação no decorrer da evolução (psicologia do desenvolvimento); ou quanto à comparação desses processos nos diversos graus de evolução animal pode esclarecer o comportamento humano (psicologia comparada); ou, ainda, quanto ao condicionamento que esses processos impõem à vida social do homem, ao mesmo tempo que as diversas formas da convivência social influem na manifestação concreta dos mesmos (psicologia social).
Os pioneiros da psicologia científica, Wundt, William James e Edward B. Titchener, se incluem na escola estruturalista, para a qual o importante é determinar os dados imediatos da consciência: as características principais e específicas dos processos de consciência e seus elementos fundamentais.
A corrente funcionalista, à qual pertenciam os americanos John Dewey, Robert S. Woodworth, Harvey A. Carr e James R. Angell, privilegia o estudo das funções mentais, em detrimento de sua morfologia e estrutura. Em vez de investigar somente "o que é", o psicólogo estudará "para que serve" e "como se efetua" o processo psíquico.
Na década de 1910, John B. Watson lançou a corrente behaviorista. Criticava tanto o funcionalismo quanto o estruturalismo, que ele julgava serem demasiado subjetivos e imprecisos e propôs o estudo exclusivo do comportamento (em inglês behavior), ou seja, daquilo que é observável na conduta do homem. Segundo ele, seria cientificamente observável a ação de um estímulo sobre o organismo e a reação deste em face do estímulo. A relação entre estímulo e reação teria seu protótipo nos reflexos incondicionado e condicionado.
Tanto o estruturalismo quanto o behaviorismo clássico procuravam reduzir o estudo da psicologia ao estudo dos elementos do comportamento. Contra essa dissecação da vida psíquica insurgiu-se a corrente fundada por Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Köhler, chamada psicologia da forma ou Gestaltpsychologie. Partindo da investigação das percepções, os gestaltistas formularam o princípio segundo o qual o conjunto dos fenômenos psíquicos apresenta características que não podem ser inferidas das partes isoladamente.
Muitos psicólogos europeus -- como Max Scheler, Frederick J. Buytendijk e Maurice Merleau-Ponty -- seguem a corrente fenomenológica, cujos caminhos foram explorados por Franz Brentano e Edmund Husserl já no século XIX. A fenomenologia em psicologia consiste em captar a vivência do outro diretamente no comportamento onde está incluída a significação do ato. Portanto, os psicólogos devem analisar tal comportamento sem procurar "atrás" dele o fenômeno psíquico, mas tentando descobri-lo no próprio fenômeno, pois o mundo fenomenal pode ser analisado diretamente, por ser um dado tão imediato quanto o "eu".
Métodos e técnicas. Os métodos científicos da psicologia podem ser divididos em três grupos: experimentais, diferenciais e clínicos. Os métodos experimentais, oriundos das ciências físicas, têm por princípio a variação de um fator, o fator causal também chamado variável independente, mantendo constantes todas as outras fontes de influência. Observar-se-ão, assim, as modificações produzidas na variável dependente. A tarefa fundamental do psicólogo será, de um lado, encontrar medidas precisas quanto às variações das variáveis independente e dependente, e, de outro lado, controlar todas as outras variáveis para que seu efeito possa ser considerado como constante.
Em certos casos, como no estudo do desenvolvimento dos fatores da inteligência, da personalidade etc., o psicólogo não pode variar diretamente o fator que deseja estudar. Recorre então ao método diferencial. As diferenças individuais constituirão a variável propriamente dita; as outras condições, e mesmo as provas às quais os indivíduos serão submetidos, ficam constantes.
Enquanto os dois métodos citados permitem estabelecer leis gerais, o método clínico se propõe compreender o indivíduo em sua situação particular ou pretende aplicar as diversas leis gerais a casos individuais. Seu uso é indispensável no diagnóstico da personalidade. Para o conhecimento preciso de determinados fenômenos psicológicos, muitas vezes os três métodos devem ser empregados conjuntamente.
A saúde e o processo de globalização
Erica Batista
A globalização é um processo de aceleração capitalista que vem se desenvolvendo de forma extremamente veloz e que afeta as sociedades de forma diferenciada.
Os países latino-americanos, bloco no qual inclui-se o Brasil, se debatem em torno de um problema crucial, pois se por um lado seu desenvolvimento está atrelado a sua inserção competitiva nesta nova ordem mundial, ou seja,uma economia global, por outro, este mesmo processo que globaliza, fragmenta a sociedade no interior destes países, o que tem lhes custado muito caro, uma vez que o aprofundamento das iniqüidades sociais tem aumentado também de forma acelerada e dramática.
No mundo contemporâneo, a globalização constitui um novo paradigma. Significa um movimento de transformação econômico-social que altera a produção de riquezas e o consumo, no entanto, traz conseqüências deletérias em vários setores da sociedade.
A busca da competitividade à qualquer custo, ou melhor às custas dos cortes drásticos nas folhas de pagamento pela demissão de empregados com a substituição destes pelas fábricas informatizadas, ou mesmo pela redução de salários, têm sido alternativas muito utilizadas pelos países para acessar a grande internacionalização dos mercados, o que tem desencadeado o fenômeno que os economistas denominam de "desemprego estrutural" . A produção em escala destas fábricas ou escritórios é lançada no mercado para consumo, entretanto só consegue consumir quem tem renda e por sua vez a renda para o trabalhador advém do emprego, e sem emprego quem pode consumir?
O espectro do desemprego provoca tensão, insegurança e ansiedade, mesmo onde ele não se encontra efetivamente instalado, porque o desemprego gera a pobreza, a miséria, a fome, a violência e, portanto, a exclusão social.
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1997 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) revela que na América Latina e no Caribe, a pobreza aumentou, e que em 110 milhões de pessoas, nessa região 24% da população vive com menos de U$ 1,00 por dia.
A iniqüidade entre ricos e pobres vem aumentando em proporções alarmantes. O mesmo relatório aponta que hoje 86% da renda mundial está concentrada nas mãos dos 20% mais ricos da população do planeta e só 1.1% da renda mundial está com os 20% mais pobres.
Nesta conjuntura de profundas desigualdades, como é o caso brasileiro, os problemas sociais se agudizaram, tornando imprescindível adoção de políticas de superação da pobreza e isto exige a tomada de medidas redistributivas, inclusive e principalmente com relação a renda.
O estudo realizado pela Comissão Econômica para América Latina (CEPAL), informa que a própria política econômica dominante no mundo também contribui para agravar a situação dos trabalhadores latino-americanos, uma vez que a globalização e o neoliberalismo privilegiam "os aumentos de produtividade e a flexibilidade dos salários com marcada desaceleração na geração de empregos".
Não se trata aqui de negar um processo de transformação que é inexorável, nem tampouco afirmar que a globalização só apresenta aspectos negativos, até porque é prematuro ainda uma análise mais acurada de todas as transformações que este processo de transnacionalidade econômica pode gerar, porém, estes são os mais evidentes na realidade brasileira. O Brasil precisa administrar com responsabilidade e competência a sua inserção nesta economia globalizada tendo como foco a justiça social e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Nesta última década, os problemas sociais se agravaram em razão da falta de dinamismo econômico e da crise fiscal e financeira do Estado, e hoje temos diante de nós, os grandes desafios colocados pelas conseqüências sociais da globalização econômica, que se refletem na crescente polarização entre ricos e pobres.
Entendemos, que buscar a melhoria das condições de competitividade internacional deve ser a preocupação de qualquer governo, entretanto, não se pode submeter isto ao custo social, porque redundará, em salários vergonhosos, mercado de trabalho segmentado, ampliação do mercado informal de trabalho e queda dos salários reais. Esta precarização das novas formas de ocupação e as formas obsoletas de negociação de salários e de condições de trabalho, significa trabalhadores sem proteção e sem direitos sociais, gerando a ampliação do espaço de reprodução das desigualdades.
É evidente que este quadro responde pelas principais causas de doenças e mortes prematuras não só no Brasil como na América Latina. O Sistema Único de Saúde enfrenta um cenário complexo, onde os serviços públicos recebem o cidadão vítima dessas condições adversas resultado das políticas de ajuste estrutural; e é justamente aí,no cotidiano dos serviços de saúde, arena de angústia, sofrimento e dor que se revela a face mais cruel das conseqüências de opções que não levam em consideração a realidade do país e de seu povo.
No Brasil, estas questões sociais adquirem um peso dramático, agudizado pela desresponsabilização dos governos em superarem ou pelo menos atenuarem a exclusão social produzida e ampliada pelo modelo econômico e social vigente.
A concepção do modelo neoliberal que colocou em pauta a discussão sobre o papel do Estado - advogando o Estado mínimo e o mercado como o principal regulador da ordem econômica e em decorrência também da ordem social, trouxe embutido o discurso de que cabe ao cidadão a autonomia e a responsabilidade com sua própria vida, aí incluídos os cuidados com a saúde.
A partir desta concepção individualista, o Estado coloca subrepticiamente a sua disposição em se desobrigar de sua maior responsabilidade que é a construção de sociedades baseadas na justiça e na solidariedade.
Ao reduzir sua responsabilidade pública e gasto social, o Estado estimula a mercantilização do setor saúde e assume a concepção política patrocinada pelo Banco Mundial, onde a atuação do Estado deverá estar voltada para a garantia de um pacote mínimo de serviços essenciais, dirigido para os comprovadamente pobres. Seria então o que chamamos de "cesta básica" da saúde; cabendo ao setor privado o provimento dos atendimentos mais complexos à população de maiores rendimentos. Esta é a política de focalização que introduz uma lógica perversa na relação do Estado com os pobres
É preciso deixar claro que o direito à saúde não pode ficar restrito às prestações de cuidados básicos embora, não se possa negar a importância destes, entretanto o atendimento deve ser garantido a qualquer forma de adoecimento.
Distinguir entre serviços que deveriam ficar a cargo do Estado e serviços que deveriam ser buscados no mercado, através dos seguros saúde, significa romper com os princípios da integralidade e do acesso.
A lógica imposta pelo processo de globalização, traz forte impacto às políticas sociais e principalmente a da saúde. Deste modo, as políticas econômicas prevalecem sobre as políticas sociais e sobre os direitos dos cidadãos, além, de ser um processo que deliberadamente fortalece os fortes e debilita os mais desprotegidos.
Os organismos internacionais influenciam a condução das reformas econômicas, e por conseqüência a restruturação das políticas sociais.
No âmbito da saúde, o Banco Mundial definiu uma nova política que está sendo implementada em praticamente todos os países da América Latina e elaborou um documento denominado "Ïnvestir em Saúde" onde constam suas principais medidas; este documento considera os serviços médicos como "bens privados", uma vez que seriam apropriados ou consumidos pelos indivíduos em quantidades variáveis.
A partir deste enfoque, a saúde seria uma responsabilidade individual, privada, portanto os cidadãos deveriam ser capazes de resolver suas necessidades de saúde. Neste caso, caberia ao Estado responsabilizar-se apenas por procedimentos que não interessasse ao setor privado oferecer, seja por falta de rentabilidade ou por elevados custos impossibilitando a compra pelos indivíduos.
Esta concepção colide flagrantemente, preconizado na Constituição Federal de 1988 e com todos os princípios básicos do Sistema Único de Saúde que são: a universalização, a integralidade a eqüidade e o acesso.
Assistimos nesta década o progressivo desfinanciamento do setor saúde, a incapacidade de regulação por parte do Estado e o descompromisso com os problemas sociais que atingem a população.
Reflexo disto, é o fato de que apesar dos gastos proporcionais dos municípios com saúde e saneamento virem aumentando, os Estados mergulhados numa profunda crise fiscal estão retraindo sua participação e o governo federal vem reduzindo ano após ano, as verbas para o setor saúde, através dos freqüentes contingenciamento de recursos, da não aprovação da PEC 169 que assegura fontes permanentes e regulares para a saúde.
É necessário articular políticas econômicas e políticas sociais, de tal sorte que, o desenvolvimento econômico não imponha sua lógica sobre as políticas sociais. É preciso ter clareza que estas políticas de focalização guardam em seu interior um caráter emergencial, clientelista, assistencialista e profundamente excludente. Compreendendo sobretudo que as necessidades básicas dos seres humanos extrapolam a simples sobrevivência.
Uma sociedade inclusiva e equitativa resulta da associação entre democracia política e democracia social, num projeto que contemple um desenvolvimento auto-sustentado e reassuma a dupla dimensão das políticas sociais: seu caráter redistributivo e regulador.
Concluímos, nossa fala com as palavras de Asa Laurell, professora da Universidade do México, autora da obra Estado e Políticas Sociais no Neoliberalismo, que faz uma análise do projeto neoliberal de reorganização da sociedade, inclusive da experiência brasileira .
"Hoje há razões concretas para se questionar a suposta viabilidade do projeto neoliberal latinoamericano, que até agora não conseguiu satisfazer as necessidades sociais, assim como não incrementou um crescimento econômico estável. Por isto, é necessário repensar as restrições impostas a estas sociedades pelo processo de globalização, redefinindo prioridades nacionais de forma a assegurar o crescimento econômico capaz de resolver a grave crise social".
O que é ser familiar de doente mental
Erica Batista
Introdução
A implementação da política de ressocialização e de desinstitucionalização da assistência psiquiátrica vem-se fortalecendo cada vez mais nos últimos anos. Como era de se esperar, as modificações efetuadas na política assistencial não foram suficientes para resolver todos os problemas da psiquiatria. Sem dúvida elas promoveram avanços significativos na assistência, mas também criaram novos problemas que ainda não foram superados.
A atual política de saúde mental preconiza que se evite ao máximo as internações psiquiátricas e que estas, quando inevitáveis, tenham a menor duração Deve-se dar preferência ao tratamento ambulatorial e todo o quadro assistencial deve estar mobilizado para promover a "desospitalização" imediata dos pacientes que estão submetidos a internações prolongadas. O resultado prático desta nova postura foi uma redução dramática no número de pacientes institucionalizados e uma tendência crescente de o número de altas ultrapassar o número de admissões. Estudos recentes calculam que 65% dos pacientes portadores de distúrbio mental crônico, que viviam em clínicas públicas ou privadas, já estão vivendo na comunidade. Calcula-se que um percentual semelhante de esquizofrênicos, que até então estavam submetidos a internações prolongadas, já estão fora dos hospitais psiquiátricos.
Apesar de todos os incentivos, vários estudos demonstram que a maior parte dos pacientes que foram submetidos a internações de longa duração não conseguem levar uma vida normal quando retornam para a comunidade. Mesmo nos países desenvolvidos a maioria permanece desempregada, com problemas de moradia, sem amparo econômico e sem uma rede de apoio social satisfatória. O percentual de pacientes que conseguem uma reintegração adequada, que passam a viver por conta própria ou em ambientes supervisionados e subsidiados pelo estado, é inexpressivo. Estudos feitos em diferentes países indicam que após a alta mais de 50% dos pacientes crônicos voltaram a viver sob total responsabilidade e dependência das famílias. Minkoff estima que, nos EUA, de cada 100 pacientes que saem de alta de 35 a 40% voltam a viver com os cônjuges e de 35 a 40% com outros familiares.
Esse conjunto de circunstâncias fez com que os cuidadores se transformassem no lastro de sustentação dos programas de saúde mental comunitária. Subitamente, as famílias e/ou os seus substitutos se transformaram nos principais agentes de assistência ao doente mental crônico, assumindo um papel que até recentemente era de responsabilidade exclusiva do Estado.
As repercussões da política de desinstitucionalização sobre os cuidadores é um capítulo da psiquiatria pouco estudado. Até recentemente, esses problemas eram subestimados e a avaliação dos profissionais se limitava, quando muito, à observação passiva das queixas que lhes eram feitas. Estudos mais modernos demonstram que estas avaliações estavam metodologicamente equivocadas, pois os familiares dos doentes crônicos, por total falta de esperança ou em função de experiências prévias desfavoráveis, evitam fazer qualquer tipo de queixa.
Com a implantação da política de desinstitucionalização os cuidadores começaram a se organizar e passaram a fazer uma série de reivindicações para suportar o papel que lhes foi conferido. A primeira referência sobre o sofrimento dos familiares aparece em 1946 com Treudley, que introduziu o conceito de "burden" na literatura psiquiátrica inglesa. Na língua portuguesa as palavras que mais se aproximam do conceito de "burden" são sobrecarga, fardo e peso. O caráter pejorativo associado à idéia de fardo e a ampla utilização de peso como medida física nos levou a considerar que a melhor tradução para o termo "burden" é sobrecarga.
Quase sempre o convívio com o paciente psiquiátrico produz uma sobrecarga intensa que acaba por comprometer a saúde, vida social, relação com os outros membros da família, lazer, disponibilidade financeira, rotina doméstica, desempenho profissional e escolar e inúmeros outros aspectos da vida dos familiares ou substitutos. Os cuidadores que se dedicam aos pacientes mais debilitados investem tempo e energia na busca de tratamento e nas negociações para que elas aceitem se tratar. A interação com os serviços de saúde mental também é uma fonte de sobrecarga, pois na maioria das vezes os contatos são vivenciados como uma experiência frustrante, confusa e humilhante. Hanson relata a situação da mãe de um esquizofrênico crônico que, diante dos impasses vividos entre as propostas dos profissionais e o comportamento do seu filho, se surpreendeu repreendendo o filho com o seguinte questionamento: "Por que você insiste em não ser um doente como eles querem?".
Ter um familiar com quadro psicótico agudo é uma experiência ímpar que muitas vezes envolve vizinhos, serviço médico, polícia e bombeiros. Promover a internação compulsória de uma pessoa que se estima é uma opção dolorosa e carregada de ambivalências. O sofrimento é ainda mais intenso quando se reconhece que internar não é o procedimento mais recomendado para o paciente, mas que, infelizmente, em função da total omissão dos responsáveis pelo planejamento na área de saúde mental, essa é a única forma de assistência disponível.
Não obstante as múltiplas fontes de sofrimento, a maioria dos cuidadores considera que a experiência mais dramática e a maior fonte de sofrimento é a percepção das angústias e da vida cada vez mais "empobrecida" do paciente. Muitos não se conformam em ver um parente, que até então era brilhante, cheio de projetos de vida e socialmente bem integrado, se transformar numa pessoa comprometida, dependente, desprotegida e tomada por limitações de toda natureza.
A presença do familiar doente obriga os cuidadores a refazer os seus planos de vida e a redefinir integralmente os seus objetivos. À medida que a idade avança, as preocupações com o destino do paciente se tornam inevitáveis. Com o passar dos anos e com a conscientização da proximidade da morte, os pais acabam aprisionados por uma angústia insolúvel que é fruto das incertezas que cercam o futuro do filho. Após observar a freqüência e a semelhança das experiências vivenciadas pelos familiares, Lefley propôs que a situação fosse reconhecida como uma síndrome que ele denominou "when I am gone". Esse mesmo tipo de preocupação é observado no nosso meio, com os cuidadores expressando suas angústias com frases do tipo "e depois que eu me for".
Apesar dos intensos transtornos e do sofrimento observado, as famílias dos esquizofrênicos quase sempre aceitam conviver com os pacientes e suportam toda a sobrecarga que lhes é imposta. Independentemente da ideologia dos serviços de saúde, da renda "per capita" do país, do tempo e número de internações, enfim, de inúmeras outras variáveis, as famílias ainda representam a principal alternativa ao hospital psiquiátrico.
Na prática os cuidadores vivem uma situação kafkaniana, pois além das dificuldades decorrentes do convívio com o paciente e de todo o comprometimento dos projetos pessoais, eles ainda têm que enfrentar alguns profissionais de saúde mental que insistem em responsabilizá-los pela doença do paciente e por todas as mazelas que vivenciam. Muitos se ressentem por serem responsabilizados pelas agitações e inquietudes do paciente e por serem acusados de desestimulantes e negligentes quando o paciente fica apático e inerte. Como se não bastasse, quando não conseguem executar as medidas previstas dentro dos projetos terapêuticos, passam a ser acusados de sabotadores e omissos, independentemente de qualquer avaliação sobre a sua exeqüibilidade.
No nosso meio, muitos profissionais ainda são partidários de uma concepção equivocada, onde se pressupõe que se a família tivesse adotado um outro padrão de relacionamento com o paciente não haveria doença. Sem dúvida esse modelo etiológico da doença mental tem efeitos desfavoráveis para os cuidadores, pois cria uma atmosfera pouco amistosa e tende a inibir as manifestações de solidariedade e amparo que as famílias desejam receber dos profissionais e da comunidade. Muitos familiares se sentem acusados como se fossem os "bruxos" da era moderna.
Durante décadas as famílias foram alijadas do processo terapêutico e o acesso aos serviços de saúde mental ficou limitado aos cuidadores que se reconhecem como culpados e que se dispunham a participar de uma "terapia familiar", onde deveriam ser exorcizados. O resultado de tudo isso foi um aumento no sofrimento dos cuidadores, o acúmulo de experiências humilhantes e o aumento do abandono dos pacientes mais graves e debilitados. Poucos foram os profissionais que reconheciam os efeitos colaterais desses tratamentos nos pacientes e familiares.
O acúmulo de experiências desastradas e o retorno dos pacientes à comunidade superaram o "marketing" dessas teorias e permitiram que houvesse um novo entendimento sobre o papel dos cuidadores nos programas terapêuticos e na implantação das políticas de saúde mental. A partir do final da década de 70 os profissionais de saúde começaram a se preocupar em dar apoio e a valorizar o familiar ou o seu substituto, pois reconheceram que eles representam um segmento determinante para o sucesso dos programas de desinstitucionalização.
Atualmente o que se preconiza é a orientação e o apoio para os familiares. Os estudos sobre a emoção expressada demonstram como a família interfere na evolução do quadro clínico, no número e no tempo médio das internações. Estudos de seguimento apuraram que a probabilidade do quadro clínico evoluir de forma desfavorável é significativamente maior nas famílias onde existe um criticismo exacerbado ou um superenvolvimento afetivo com o familiar doente do que nas famílias sem estas características. Os pesquisadores fazem questão de ressaltar que o clima familiar de maior criticismo ou de superenvolvimento não deve ser considerado como "o" agente etiológico da doença mental, mas sim como mais um fator desfavorável. Neste modelo a esquizofrenia seria uma situação de vulnerabilidade ao estresse, biologicamente condicionada, e o criticismo e o superenvolvimento funcionariam como uma "superestimulação" desfavorável para os esquizofrênicos.
Atualmente, existe um consenso de que a intervenção na família influi favoravelmente no curso da doença. Ryglewicz sugere que tanto os familiares como os profissionais podem se beneficiar de programas educacionais que visam ajudar a reduzir os efeitos do estresse ambiental sobre o paciente. Nestes programas as famílias recebem apoio; informações sobre a doença e uso de medicamentos; ajuda para identificar as fontes de estresse e técnicas para reduzi-lo; informações sobre como lidar com o paciente; e são incentivados a valorizar as suas necessidades e a dos outros membros da família. Muitos desses estudos demonstraram uma correlação positiva significativa entre o uso de técnicas psicoeducacionais, baixas doses de medicamentos e a redução na taxa de "reagudização" do quadro psicótico.
Apesar de todos esses avanços, o número de centros de saúde mental que oferecem programas específicos de apoio para os cuidadores e que os aceitam como aliados na elaboração dos projetos terapêuticos e de reabilitação é extremamente reduzido. Infelizmente, na maioria dos serviços o único papel reservado para a família é o de agente custodial e, normalmente, não se considera a necessidade de eles receberem informações sobre a doença, de expressarem os seus pontos
Serviço Social e política educacional: um breve balanço dos avanços e desafios desta relação.
ERIC Batista
Tratar da relação entre o Serviço Social e a política educacional tem sido uma situação acadêmica com a qual me deparo recorrentemente ao longo dos últimos nove anos, muito em razão dos investimentos realizados à frente do Projeto de Extensão Educação Pública e Serviço Social da Faculdade de Serviço Social da UERJ. Contudo, nos últimos três anos se intensificaram os encontros e as demandas para discutir o papel e a inserção do assistente social no campo educacional. As razões que levaram ao alargamento desta agenda e que vem envolvendo não só os assistentes sociais, mas Secretários Municipais de Educação, professores dos diferentes níveis de ensino, os Conselhos Regionais de Serviço Social e os alunos de graduação, constituem a preocupação central que orientou a elaboração deste texto .
É inegável que, ao longo desses anos, não pude me furtar a responder às perguntas sobre os motivos da pouca presença do profissional de Serviço Social na área de educação - sobretudo nas escolas -, em termos da composição do nosso mercado de trabalho; principalmente, conforme os argumentos apresentados por aqueles interlocutores, quando são “muitas as proximidades entre o trabalho do assistente social e a área de educação”. Compreendo que parte do interesse manifesto pelos participantes desses encontros aponta para uma clara expectativa de ampliação do nosso mercado de trabalho em direção a uma área com que muitos guardam estreitas vinculações e motivações político-profissionais . É a partir dessas duas marcas: a proximidade da atuação do assistente social com a área de educação, em função da dimensão sócio-educativa de sua intervenção, e a expectativa em relação à ampliação do mercado de trabalho, que vou procurar apontar algumas das mudanças qualitativas que venho observando em relação a este debate.
Já em reflexões anteriores eu apontava para as tendências presentes no Serviço Social em termos de sua aproximação teórica e prática ao campo educacional, salientando, dentre elas, o movimento de reconhecimento e validação da pertinência da atuação do assistente social em função da dimensão educativa de seu trabalho.
Durante muitos anos a associação entre Serviço Social e educação esteve, quase que de forma automática, relacionada ou ao campo da formação profissional ou à dimensão educativa do trabalho dos assistentes sociais. As razões não nos são desconhecidas: uma franca alteração no perfil do mercado de trabalho, no que se tange à efetiva atuação dos assistentes sociais no âmbito dos estabelecimentos e da política educacional ao longo dos anos 70 e parte dos 80, a afirmação do debate e das práticas sobre educação popular que se estenderam para além dos muros institucionais, além do reconhecido avanço teórico e político que as abordagens sobre a formação dos assistentes sociais ganharam no final deste século, particularmente face à atuação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) (Almeida: 2000a, 19-20).
Ainda que esta identificação exista e qualifique parte dos argumentos em defesa de uma maior aproximação entre os pólos dessa relação, não podemos deixar de salientar que ela carece de um maior desdobramento, seja do ponto de vista teórico ou político, para sustentar uma justificativa ou explicação quanto à presença dos assistentes sociais na área de educação. Venho insistindo em uma outra forma de abordar a questão que busca não afastar esta preocupação dos esforços acadêmicos, organizativos e políticos que particularizam a trajetória da profissão ao longo das últimas décadas e que convergem para a afirmação do nosso projeto ético, político e profissional. Entendo, portanto, a recente aproximação do Serviço Social ao campo educacional como caudatária dos avanços e acúmulos teóricos da profissão nas discussões em torno das políticas sociais como lócus privilegiado da ação profissional, assim como da própria organização política da categoria e das estratégias de articulação aos movimentos sociais que atuam na construção de um novo projeto societário, onde a luta pela conquista da cidadania se tornou um componente fundamental para sua unidade.
Este tipo de leitura retira da percepção imediata dos pontos de convergência entre as práticas profissionais e sociais, características de uma dada dimensão da vida social, o foco central de análise, recolocando-o em outro patamar, o do reconhecimento das ações profissionais que tomam o campo das políticas sociais como campo de interesse teórico, profissional e político para o Serviço Social. Deste modo, compreendo que o tratamento das possibilidades de atuação do Serviço Social no campo educacional é mediado por movimentos que se inscrevem nas relações políticas e institucionais que a categoria profissional, enquanto sujeito coletivo, tem travado na própria dinâmica da sociedade brasileira.
Em um primeiro momento, destaco o avanço da produção acadêmica da profissão em torno das políticas sociais e o enfoque sobre as particularidades do trabalho dos assistentes sociais nessa área como o lastro intelectual necessário para se pensar sua inserção na área de educação não como uma especulação sobre a possibilidade de ampliação do mercado de trabalho, mas como uma reflexão de natureza política e profissional sobre a função social da profissão em relação às estratégias de luta pela conquista da cidadania através da defesa dos direitos sociais das políticas sociais. Em uma certa medida, é possível afiançar que tal avanço não só abriu perspectivas para o exame da área de educação, enquanto área de interesse profissional para o assistente social, mas também em relação a tantas outras políticas setoriais ou áreas de atuação do Estado, como as voltadas para a terceira idade, o sistema sócio-jurídico, a segurança pública, juventude, esporte, lazer, cultura e as ações afirmativas em relação às questões de gênero, raça e etnia. Trata-se, portanto, de um avanço que, embora se expresse de forma diferenciada em cada uma dessas áreas, representa o movimento de maturidade intelectual da profissão .
Em um segundo momento, ressalto o avanço político e organizativo de nossa categoria profissional que, sobretudo, através das entidades representativas, com especial destaque ao conjunto que envolve o Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais de Serviço Social, têm conseguido garantir uma certa coesão e sintonia entre os avanços nos campos intelectuais e políticos, de modo que as discussões sobre a inserção do assistente social em determinadas políticas setoriais, não consagradas em termos de mercado de trabalho, não só não se descole da intervenção coletiva da categoria na dinâmica social como se expresse como uma de suas principais estratégias na luta por uma sociedade sem injustiças e desigualdades sociais.
A política educacional aparece no cenário das preocupações profissionais hoje de uma forma diferenciada da que tínhamos há alguns anos. Não se trata mais de uma aproximação saudosista quanto a um campo de atuação profissional que minguou com o tempo, mas de um interesse ancorado na leitura do papel estratégico que esta política desempenha do ponto de vista econômico, cultural e social. As mudanças ocorridas ao longo das últimas três décadas do século vinte no modo de produção capitalista foram decisivas para um conjunto diversificado de requisições ao campo educacional.
Essas transformações na esfera da produção e da cultura impõem dois desafios centrais para a educação, vinculados exatamente às suas funções econômicas e ideológicas, estratégicas no atual estágio de desenvolvimento do capitalismo: a garantia de uma formação técnica flexível, adequada às exigências dos novos padrões de produção e consumo e às variações do mercado de compra e venda da força de trabalho, assim como a garantia de uma formação ideologicamente funcional ao paradigma da empregabilidade.
O alcance planetário dessas mudanças fornece um novo contorno à divisão internacional do trabalho e da produção cultural, exigindo ações mais articuladas e de proporções mais amplas na garantia das condições necessárias para o desenvolvimento das novas estratégias formuladas pelo capital nas três últimas décadas. (Almeida, 2000b, 153).
Sob esta perspectiva, a política educacional passa a sofrer um tratamento teórico e político diferenciado no Serviço Social, trilhado em três direções principais. A primeira relacionada ao seu significado no âmbito das mudanças no campo do trabalho e da cultura e sua dimensão estratégica para a atuação do profissional de Serviço Social. A segunda expressa um novo patamar de tratamento da formação profissional pelo Serviço Social com relação a sua vinculação à política de educação superior, expressa, sobretudo, a partir das produções resultantes dos esforços empreendidos pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social . A terceira é aquela que resgata as experiências profissionais e que vêm sendo socializadas nas últimas três edições do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS) em 2001, 1998 e 1995 .
Entendo, desta forma, que as reflexões e as experiências produzidas pelo Projeto de Extensão Educação Pública e Serviço Social (PEEPSS) da UERJ, ao longo dos últimos nove anos, assim como as do Laboratório de Extensão: Organização de Experiências nas áreas de Serviço Social, Trabalho e Educação (Lext-Oesste) da UCB, em um período mais recente , das quais tenho participado, podem ser compreendidas como expressões deste novo tipo de leitura da relação entre Serviço Social e Educação, na medida que sintetizam em suas atividades de pesquisa e extensão uma produção intelectual que é alimentada e que realimenta as ações de profissionais, não só assistentes sociais, que atuam na área de educação. Ainda que tal investimento se localize no interior de instituições universitárias, suas atividades não se caracterizam como ações intestinas. Ao contrário, revestem-se de um caráter estratégico em relação ao próprio movimento empreendido no Serviço Social no plano intelectual e organizativo, na medida que apóiam a sistematização de experiências e a capacitação dos profissionais que atuam no campo educacional.
Cabe sinalizar o papel de referência destes projetos para a discussão da relação entre o Serviço Social e a educação a partir de algumas de suas contribuições para a afirmação da inserção profissional do assistente social nesta área a partir de um movimento coletivo que destaca sua função social e política na defesa e ampliação das políticas sociais.
A contribuição desses projetos para o fortalecimento de um novo estágio da relação entre o Serviço Social e a política educacional apenas sublinha a dimensão coletiva deste esforço que conta com outros importantes sujeitos coletivos, conforme já sinalizei. Destarte, resgato que a ampliação da agenda de debates sobre o tema é, também, uma resultante desse processo de maturidade intelectual e da organização política da categoria profissional e, nesta mesma linha de raciocínio, contribui para a consolidação de um empreendimento conjunto que envolve o meio acadêmico e profissional.
Gostaria, agora, de retomar aquelas preocupações, inicialmente apontadas nos encontros dos quais tenho participado e neste próprio trabalho, com relação ao mercado de trabalho e à proximidade da dimensão educativa de nosso trabalho à área da educação. Embora constituam expressões legítimas dos interesses de diversos estudantes e assistentes sociais, elas, por si só, não contribuem hoje, a partir do quadro apresentado sobre as novas tendências de abordagem do tema, para a visualização de outras possibilidades de ação profissional, assim como os desafios que lhes são decorrentes. Mas, na medida que elas permanecem como uma inquietação para muitos é preciso prosseguir na direção da abordagem sobre a qual tenho apontado, para que se dirimam as dúvidas existentes.
Curiosamente, a questão da dimensão educativa de nossa atuação acaba por se articular com o interesse em torno da ampliação de nosso mercado de trabalho como uma das principais preocupações que os trabalhadores da área de educação, em especial os do ensino fundamental, têm em relação a nossa presença nas escolas. O receio é compreensível e eu já alertei várias vezes, em outros encontros como este, para o risco que certas vias de consolidação de nossa inserção no campo educacional provocam, particularmente aquelas que se assentam apenas na aprovação de leis criam a carreira de assistente social na área de educação.
A escola, ao longo da história de educação no Brasil, sempre sofreu com as ações “revolucionárias, doutrinárias e salvadoras” elaboradas de forma distante do cotidiano escolar e implantadas sob uma forte tradição autoritária. Infelizmente, ainda conservamos muito de uma cultura política autoritária em todas as instâncias da vida social, inclusive na educação. Basta verificarmos como foi efetivada uma verdadeira reforma no sistema educacional brasileiro ao longo dos últimos oito anos, onde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma de suas mais emblemáticas expressões, sem que fossem consideradas a árdua trajetória de luta e as propostas e reivindicações dos movimentos sociais ligados à educação. Desta forma, a presença de mais um profissional na escola, imputada, geralmente, por meio de uma lei, sem a discussão prévia com os profissionais da educação e sob o argumento de que este profissional enfatiza em seu trabalho justamente uma dimensão educativa, é de fato preocupante para quem atua na área.
As dúvidas sobre o papel a ser desempenhado por esse profissional expõe desconhecimentos de ambas as partes. Por um lado, se alardeia sobre a possibilidade de sobreposição de funções e habilidades com relação às ações educativas que se dirijam para uma formação pautada na construção da cidadania. Por outro, se causa profundo mal estar ao vincular a presença do assistente social à consolidação de práticas assistencialistas no universo escolar. Olhar para o problema unilateralmente, ou de forma isolada do que acontece na sociedade, no âmbito das políticas sociais e na própria área de educação, só amplia as possibilidades de novas distorções. Parece-me que mais adequado do que pensar o que poderá fazer este profissional, sob um prisma mais idealizado, é pensar a partir do que vem determinando sua presença hoje no âmbito da política educacional como parte da dinâmica social e não como mera expressão de um desejo ou inquietação de uma categoria profissional.
Além dos fenômenos relacionados às mudanças no mundo do trabalho e da cultura, que produzem importantes impactos na política educacional, tornando-a objeto de preocupação política e profissional para diversos profissionais, em especial os assistentes sociais - já tratado anteriormente -, outros fenômenos sociais têm incidido diretamente sobre o campo educacional, configurando as bases institucionais e sócio-ocupacionais que têm justificado o aumento da presença dos assistentes nesta área de intervenção do Estado.
O primeiro fenômeno relaciona-se a uma tendência no campo das políticas governamentais voltadas para o enfrentamento da pobreza e para a garantia de uma renda mínima que tomam a inserção e a participação no ensino regular das crianças das famílias atendidas. Os programas de bolsa-escola, nas suas mais diferentes feições, são ilustrativos desta situação. O que tenho observado é que a própria diversificação e ampliação dos programas e projetos sociais, sejam eles de corte municipal, estadual ou federal, voltados para o enfrentamento da pobreza acabam reforçando esta tendência e criando vínculos institucionais entre as diversas secretarias e instâncias as quais se subordinam com a rede de ensino fundamental por todo o país.
O segundo deles está relacionado à ampliação das refrações da questão social que se manifestam no cotidiano escolar, determinando, entre outras situações, a necessidade de diálogo e aproximação do professor com um universo de categorias profissionais e serviços sociais como parte da estratégia de desenvolvimento de suas próprias atividades laborativas. Constitui exemplo desta situação a articulação com as redes e profissionais de saúde, da assistência social, do lazer, da cultura e, também, da segurança pública. Em cada realidade regional ou municipal, este relacionamento pode ganhar contornos temporários ou estruturais. Para ilustrar esta tendência, basta recuperar a proposta inicial dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIPEs do Rio de Janeiro, que previam a existência de uma equipe multiprofissional nas suas unidades envolvendo médicos, dentistas, recreadores e assistentes sociais. Proposta similar vem sendo empreendida hoje pela prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que está montando uma equipe composta por um amplo leque de profissionais de diversas áreas para atuar nas escolas, ainda que não vinculados a uma delas, mas a determinados complexos de escolas, contudo, enquanto profissionais pertencentes ao quadro da área de educação.
Nos dois casos é possível observar que a complexificação da questão social tem sido acompanhada da fragmentação de uma de suas principais estratégias de enfrentamento: as políticas sociais. Em síntese, os usuários e a própria rede de instituições que compõem o campo da política de educação não se relaciona mais da mesma forma com a rede de proteção social das demais políticas setoriais. Existem nítidos sinais de estrangulamento e redimensionamento deste relacionamento indicando que novos espaços ocupacionais, assim como novas dinâmicas interinstitucionais, estão sendo forjadas como alternativas à nova realidade social. Tanto as unidades educacionais passam a necessitar direta ou indiretamente de novos aportes sociais e profissionais para o desenvolvimento das suas funções sócio-institucionais tradicionais, quanto as instituições e os profissionais da rede de proteção social passam a formular projetos e ações exclusivamente dirigidas para as escolas. Exemplificam esta situação tanto os assistentes sociais que vêm sendo contratados para atuar nas escolas quanto os assistentes sociais que atuam em unidades de saúde, por exemplo, e que desenvolvem projetos especiais para as escolas, como os de saúde do adolescente, dinamizadores para o processo de doação de sangue e discussão sobre drogas ou sexualidade.
Lidar com esta realidade exige mais do que os esforços empreendidos no sentido da ampliação das competências e habilidades daqueles profissionais que atuam no campo das políticas sociais sejam eles educadores, médicos ou assistentes sociais. Muito embora este caminho sinalize uma certa sintonia da formação profissional com a dinâmica da realidade social, realimentando os projetos pedagógicos de formação dos profissionais de nível superior a partir de novas necessidades e compromissos sociais, esta alternativa não se dá de forma homogênea em relação às diversas profissões e nem apresentam resultados imediatos. Desta forma, outras alternativas vêm sendo construídas no mundo do trabalho, em especial com relação ao trabalho desenvolvido no campo das políticas sociais, como as ações e projetos de capacitação continuada, a ênfase na formatação de equipes e atividades multiprofissionais ou interdisciplinares, e, ainda, a reformulação das próprias lógicas de organização dos trabalhos coletivos e a criação de novas modalidades de trabalhadores, não mais requisitados por suas formações específicas, mas pelos perfis que dispõem para as novas funções e demandas sociais.
Procuro, ainda, compor a análise desta situação situando que o próprio mercado de trabalho do assistente social no campo educacional dever ser avaliado de um modo diferente. Há mais ou menos dois anos se iniciou um processo de inserção de assistentes sociais na área de educação na região sudeste. Coloco como um desafio mais atual e urgente o acompanhamento desses processos de contratação como uma estratégia voltada para a ampliação efetiva deste mercado de trabalho. Para tanto apresento algumas justificativas importantes. Destaco primeiro, o fato de que pela ausência de tradição de atuação dos assistentes no ensino fundamental, que muitas contratações possuem um caráter temporário ou experimental. Nestes casos, o êxito dessas práticas constitui um fator central para a ampliação do mercado de trabalho, embora o que seja decisivo mesmo seja a vontade política dos municípios em ampliar seus recursos humanos como forma de investimento social.
Um segundo argumento diz respeito às situações em que as contratações são realizadas mediante concursos públicos. Neste caso, o que observo é que ora eles são aproveitados a partir de sobras ou remanejamento de vagas de concursos para outras áreas, ora são realizados concursos específicos para a educação, mas que não tratam da particularidade da atuação nesta área em termos de bibliografia (o que é até certo ponto compreensível em relação à produção do Serviço Social, mas não em termos da legislação) como se observa em concursos para as áreas de saúde e criança e adolescente, por exemplo. Esta pode parecer uma questão menor de imediato, mas atinge centralmente um dos principais problemas da história da atuação dos assistentes neste campo e um dos receios dos profissionais da área: a ausência de clareza de como atuar e a possibilidade de sobreposição de funções e habilidades.
Uma terceira e última justificativa para o acompanhamento desses processos de contratação está relacionada aos processos de preparação dos candidatos e de discussão em torno das áreas definidas para a atuação dos assistentes sociais. Como tenho insistido na dimensão coletiva deste processo, creio que a atuação dos Conselhos Regionais e dos grupos institucionais que tomam esta área como objeto de preocupação sejam decisivos para articular a dinâmica do mercado de trabalho e o projeto de organização política e luta em torno da ampliação e democratização das políticas sociais.
Uma importante questão ainda resta ser tratada e está relacionada às anteriores. Pensar a atuação do assistente social na área de educação requer pensar a política educacional em sua dinâmica e estrutura, o que significa dizer que o espaço escolar é apenas uma das imensas possibilidades de atuação deste profissional no campo educacional. Identifico que, talvez, pelo fato de que a escola represente simbólica e objetivamente de forma mais completa a área de educação, muitas vezes este priveligiamento do espaço escolar como locus de atuação dos assistentes sociais conduz a uma leitura reducionista e equivocada da política educacional e, por conseqüência, das nossas próprias atividades profissionais e de nosso mercado de trabalho.
A política educacional se estrutura em áreas como a da educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a educação superior e a educação de jovens e adultos, entre outras. E em todas elas existem assistentes sociais atuando, sendo que em muitas já há algumas décadas. Vale destacar que esta amplitude da política educacional seja no conjunto das práticas sociais que regulamenta, seja no conjunto das profissionais e instituições que engloba, aponta tanto para a diversidade de formas de inserção que deve ser recuperada quando for referido o trabalho do assistente social na área de educação, quanto para o grau de desconhecimento que a própria categoria profissional tem desta política setorial.
As atividades de assessoria, de estágio e de investigação das quais tenho participado, tanto no PEEPSS quanto no Lext-Oesste, têm possibilitado identificar algumas características do trabalho que os assistentes sociais têm desenvolvido nesta área de política social apesar de sua diversidade. Analisando as atividades desenvolvidas, os projetos por eles elaborados ou implementados e os programas dos quais participam os assistentes sociais pude agrupar quatro focos centrais desta atuação. O primeiro envolvendo as ações e atividades que convergem para a garantia do acesso da população à educação escolarizada. São atividades relacionadas à concessão de bolsas, definição de critérios de elegibilidade institucional, elaboração de diagnósticos populacionais para ampliação da capacidade de cobertura institucional e a mobilização e a organização política de grupos sociais com vistas à garantia do acesso à educação.
O segundo foco relaciona-se às atividades e ações que visam garantir a permanência da população nas instituições educacionais. Dentre estas atividades encontram-se as ações interinstitucionais dirigidas para a mobilização da rede de proteção social local, como os serviços de saúde, de transporte, os Conselhos Municipais ligados aos diversos campos dos direitos sociais e os programas e projetos sociais das demais instâncias governamentais. São ações que favorecem desde o encaminhamento para atendimento na rede de serviços sociais mais próxima até a inclusão em programas sociais que incidem diretamente sobre as condições objetivas da população no que diz respeito à permanência dela ou de alguns de seus membros no sistema educacional.
O terceiro foco diz respeito às ações e atividades que são realizadas pelos assistentes sociais com o intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados no sistema educacional. Neste caso, são desenvolvidas atividades conduzidas exclusivamente por assistentes sociais como por equipes multiprofissionais, das quais participam, voltadas para a discussão dos problemas sociais e educacionais. São atividades promovidas como parte de um processo de formação ampliada da população. A perspectiva de uma educação alicerçada na luta pela conquista e ampliação da cidadania é a referência central de atuação neste foco. A organização de atividades com os pais e responsáveis, com a comunidade local, com os próprios alunos e profissionais da educação para tratar de questões relacionadas aos problemas e desafios sócio-educacionais é parte de um processo social e educacional do qual professores, assistentes sociais, sociólogos, sanitaristas, psicólogos e outros profissionais têm contribuído e participado.
O último foco relaciona-se ao desenvolvimento de atividades que apontam para o fortalecimento das propostas e ações de gestão democrática e participativa da população no campo educacional. São atividades desenvolvidas junto a segmentos sociais como coletivos e grêmios estudantis, sindicatos, associações de pais, de moradores e profissionais da educação no sentido de instrumentalizar e apoiar os processos de organização e mobilização sociais no campo educacional.
É interessante salientar que estes focos não são observáveis apenas no campo educacional, mas a sua identificação, nos trabalhos dos quais participo ou acompanho a partir dos projetos de extensão, se deu a partir do exame das diferentes atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais nesta área. Da mesma forma, posso complementar que em níveis diferentes de intensidade, todas as atividades desenvolvidas pelos assistentes sociais pesquisados que atuam na área de educação, no Rio de Janeiro, se inscrevem nesta divisão e que as mesmas estão presentes em qualquer área de atuação, ou seja, desde a educação infantil até a educação superior.
Para encerrar este breve balanço, não poderia deixar de tratar de dois pontos cruciais na perspectiva de análise da relação entre o Serviço Social e a política educacional. O primeiro é que me filio a uma trajetória de tratamento do tema que enfatiza tanto a vinculação desta relação à dinâmica das políticas sociais e às ações dos sujeitos coletivos que dela participam quanto o enfoque das possibilidades, limites e desafios da inserção dos assistentes sociais pela via da compreensão da organização do trabalho coletivo no âmbito dos estabelecimentos educacionais. O resultado desta escolha é que apreendo a inserção dos assistentes sociais nesta área não como obra do desejo individual ou como resultado de uma licença que nos foi concedida, mas como resultante de uma dinâmica social.
O segundo ponto, decorrente do primeiro, é que ao enfatizar a perspectiva de análise via a organização do trabalho coletivo no interior de cada tipo de estabelecimento educacional, credito às competências e habilidades profissionais demarcadas separadamente em cada associação ou conselho de classe um papel importante, mas secundário, para a compreensão do fazer profissional dos trabalhadores da área de educação, incluindo aí os assistentes sociais. A análise dessas práticas tem revelado que essas fronteiras previamente estabelecidas acabam sofrendo outras determinações, impostas pela lógica da organização do trabalho coletivo, provocando modalidades de atuação que se explicam muito mais pela relação que estabelecem com a dinâmica da política social do que com as especialidades profissionais.
CASO TENHA INTERESSE EM MAIS TEXTO ENTRE EM CONTATO