Batuques,
quadrinhas
e
o jongo
As
longas noites dos trabalhadores, brancos
e
negros, na primeira metade
do século XX
O próximo
texto é testemunha de um tempo. Foi escrito e publicado há
quase 60 anos, num movimento encabeçado por Hernani Donato,
pelas páginas da Folha de Botucatu, dentro de uma campanha
lançada em busca da Recuperação Histórica. Nele, Hernani,
descreve a dança chamada Jongo, com todo seu ritual e
simbolismos. O olhar arguto do jovem Hernani fixou a
manifestação cultural, num momento crucial: o seu fim.
Permanece atual e, quanto mais passa o tempo, mais precioso ele
fica, para ser estudado, pelos botucatuenses que buscam os
detalhes do quotidiano da nossa cidade. Minucioso, o escritor
botucatuense analisa os detalhes, dos passos aos instrumentos,
do tempo de cada roda aos prazeres dos intervalos.
O
último Jongo por
Hernani Donato
(publicado
originalmente na Folha de Botucatu em 12 de novembro de 1947)
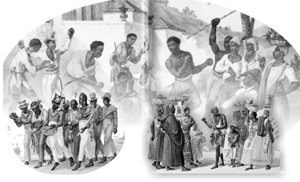
Perguntem
meus senhores, a essas moças e a esses moços que se contorcem
em danças modernas nos salões dos clubes aristocráticos, se
conhecem o Jongo. Perguntem-lhes se já ouviram, ou assistiram,
ou sentiram-se envoltos nesse misto de barbárie e requinte, no
torvelinho animado de liberdades e de regras de cadência, ritmo
e beleza coreográficas.
No entanto, a
velha Botucatu dos idos oitocentos, foi uma das capitais do
Jongo. Jongos animadíssimos foram dançados ali na hoje praça
Cel. Moura e, então, Pátio do Calvário. A nossa cidade de
hoje, na província de ontem, era a capital do sertão.
Vilazinha acolhedora e festiva, colorida todos os dias pelo ir e
vir dos comboios que batiam o mato bravo. Havia alegria e vida,
também, pôr aqueles tempos. Dentre as festas populares:
cavalhadas, batuques e jongo. Com o progresso e o nosso século,
o Jongo sucumbiu. Ficou sendo apenas curiosidade folclórica,
poucas vezes revivida. Vez outra, houve-se falar de um.
Vi o último
Jongo em Botucatu
Noite de setembro,
no largo tão querido da meninada toda, dos mais bairros mais
centrais. Hoje atufaram-lhe pelo meio o prédio inacabado da
residência sede do DER. Entre a General Telles e a Avenida Dom
Lúcio. Foi esse, certamente, o derradeiro e o mais pobre dos
Jongos celebrados na cidade. Os homens vieram com as surradas
roupas do trabalho e, as mulheres, sem o adorno recomendado pelo
ritual. Marcando a cadência, muitos instrumentos profanos,
escandalizando a orquestra tradicional. Já não havia muito
ritmo, nem a graça peculiar aos dançadores eméritos, naquela
gente que mais se preocupava em divertir-se tanto e como fosse
possivel.
Mas nem todos
os Jongos foram assim em Botucatu...
Havia duas coisas
famosas na vila dos miloitocentos: corrida de cavalos e festas
populares. Quase sempre, uma seguia a outra. Durante o dia, nas
raias caboclas, rasgadas a enxada, nas poucas e mentirosas retas
descobertas entre a morraria. Depois, à noite, em mais de um
lugar, o povo saía a divertir-se. Mas, vamos somente falar do
Jongo.
O Jongo era uma
dança mista em que tomavam parte, homens e mulheres,
necessariamente brancos e pretos. Movimentavam-se os
dançarinos, da esquerda para a direita, em grupos díspares, ou
seja, ora um homem branco e duas mulheres, podendo uma ser
também branca ou, então, ambas de cor. A cada verso.,
aproxima-vam-se um passo, balanceando o corpo, uma vez à
direita, outra vez à esquerda, de maneiras a nunca se
defrontarem, mas ficando sempre um pouco de lado. Assim iam
dando voltas ao círculo, deslocando-se para mais próximo ou
mais distante do centro.
As mulheres
traziam as mãos à altura dos seios, resguardando-os, e
movimentando os cotovelos como se fossem asas. Os homens
deixavam as mãos à vontade. Os pés, de uns e outros,
movimentavam-se para a frente e para trás, pisando de leve o
chão, assentando todo o peso do corpo nesses pés ligeiros. A
razão de ser da dança era o canto. O canto do Jongo chamava-se
"o ponto". O "desafio" atual é quase uma
degenerescência do Jongo. O "ponto" era o improviso
do homem, regulado pelas voltas dos dançarinos. Assim, havia
"pontos" de uma volta, de duas voltas, e três voltas,
segundo o número de versos; geralmente dois versos valiam uma
volta.
O "dono"
do Jongo é que iniciava o canto, dando o ritmo e a letra, num
solo vocal bem lento e claro, ouvido em silêncio. Logo depois,
com um pequeno intervalo, em que a orquestra entrava na música
dada pelo canto, ele repetia e, já no segundo verso, todos os
dançarinos e os músicos faziam coro. A partir do primeiro,
raramente a música cessava, abafando-se às vezes, à véspera
de novo ritmo. Quando o "dono" ou o
"jongueiro" cansavam-se de dar o "ponto",
plantavam-se de mãos para o alto, como furtando-se a algo que
caía misteriosamente do céu e , com os joelhos curvos gritavam
"cachoeira"! Imediatamente outro dos homens tomava o
seu lugar e principiava o seu "ponto". Podia, ou não,
alterar o ritmo da música, segundo a sua capacidade de
improvisador.
E assim,
ininterruptamente, pela madrugada em fora.
A regra era de
todas a se tornarem oxítonas, acordes à cadência do Jongo.
Principiava o verso, bem alto, para ir se fazendo grave até a
derradeira sílaba, quase sempre um verbo sem obrigatoriedade.
Eis um "ponto" de duas voltas, recolhido naquele
último Jongo.
"Num
deixá balão subi ii
Ta
começano se re náa
Serenô
rasga pa-pée
Papé
custa ga nháa"
E este outro, de
uma "volta", que foi "dado" pôr um
Jongueiro forçado pêlos companheiros a entrar na dança:
"Me-de-xa-me
de-xa que vim só pris-piá Eu vou me imbora – eu vor-to-já"
Toda música do
Jongo vinha de três instrumentos característicos: "angoiá",
cestinho arredondado de farpas finíssimas de bambu, contendo,
no interior, pedregulhos roliços e com uma empunhadura própria
para a mão direita do homem; "candongueiro" ou "candonguê"
de onde provinham os sons agudos, um pequeno tambor de forma
afunilada e o "tambu" ou "tambo" bem
caracterizado pelo seu nome, em regra tendo o comprimento
determinado pelo dobro e mais da metade da largura, fechado no
lado mais largo pôr um couro de boi guardado frouxo e estirado
e aquecido ao braseiro no momento do uso. No último Jongo já
não havia mais o típico "tambu", mas sim um
autêntico tambor de aros de metal.
No período em que
foi o movimento da escravatura negra, surgiram mais dois
instrumentos para reforçar a orquestra do Jongo: o
"urucungo" e o "caxambu". Ambos de
percussão, variedade apenas do tambor, tinham a finalidade de
produzir sons mais cavos e cadenciados, sendo instrumentos
tipicamente de negros tenderam a desaparecer.
Hoje, o Jongo é
uma tradição quase perdida. Os improvisadores campesinos que o
deveriam cultuar preferem o canto sem a dança e daí nasceu o
desafio. Nas cidades dá-se pouca importância, infelizmente,
aos festejos populares do passado. Pôr isso, o Jongo morreu.
Agonizou naquela noite em que o vi., desfigurado, anêmico,
restrito, descambando muito ao gosto dos interessados, num
batuque animado de umbigadas furtivas.
Mas vale apenas
registrar o que foi o Jongo. Muitas e muitas de nossas noites
serranas foram veladas pelo seu ritmo e acalentadas pelo seu
canto. Muita gente, desaparecidos uns, apenasmente saudosos
outros, viveram nos terreiros do Jongo, seus grandes e
deliciosos momentos. A esses, pertencem estas linhas.
««
voltar
|
|

