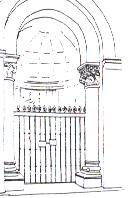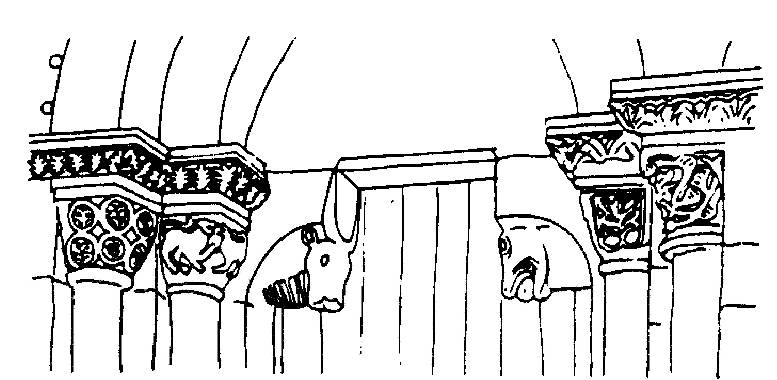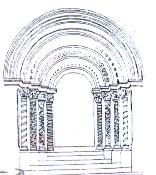As condições históricas que possibilitaram
a formação da arte românica e uma sua afirmação
extraordinariamente densa são múltiplas e poderosas. Sem
as transformações económicas, técnicas, demográficas,
político-administrativas e de mentalidades que aconteceram depois
do ano 1000 e forjam o nascimento da Europa dificilmente apareceriam as
inovações e criatividades que fazem do românico uma
esplêndida primavera com enorme aceitação por todo
o Ocidente e o primeiro grande estilo medieval europeu. Entre nós,
esta arquitectura estende-se desde o Minho ao Alentejo e, cronologicamente,
desde os inícios do século XII aos finais do século
XIII.
No Entre Douro e Minho e Beiras o habitat era já disperso,
embora os aldeamentos tendessem a localizar-se nas áreas mais enrugadas,
ao lado dos soutos, intercalando-se entre a mancha mais funda dos cultivos
de regadio e as parcelas de centeio, de estivada e de monte.
Na época românica, que vem a seguir e acompanha
os tacteamentos e a afirmação da independência de Portugal,
desenvolvem-se as tendências anteriores, mas há um espírito
novo e novas direcções. Reis, nobres, senhores de “terras”
e mosteiros e logo depois ordens militares impõem aos ocupantes
das terras prestações de bens mais variadas e diversos trabalhos,
que os agricultores têm de satisfazer por todos os motivos, até
em contrapartida da protecção e da justiça que aqueles
lhes asseguram. A reforma gregoriana, que se ia impondo, além de
trazer uma liturgia de um novo espírito, ajuda a reforçar
também as prestações para o bispado e para as igrejas
paroquiais, em troca de uma assistência espiritual mais intensa e
de um mais digno exercício do culto.
--------------------
A construção de um edifício, igreja paroquial ou
mosteiro, paço ou castelo, é habitualmente a concretização
de um pensamento longamente gerado e de uma vontade forte, o que pressupõe
um diálogo intenso, mais ou menos explícito, não só
com as ideias da época e a comunidade, como também entre
o encomendador e os artífices. As grandes construções
são documentos de uma extraordinária riqueza de significações.
E são também elas que têm maior possibilidade de resistir
aos tempos e de garantir o prestígio do encomendador-possuidor.
Pelos vultosos meios financeiros de que necessita, pela criação
de volumes e espaços e consequentes inovações na atmosfera
do lugar e na paisagem que um implantação arquitectónica
sempre ocasiona, pela sua radical ligação aos nossos hábitos
de vida quotidiana, às nossas referências e à vida
e memória social, a arquitectura será sempre a parte maior
da história de arte e a parcela mais poderosa do nosso património.
Mormente as igrejas, no seu sítio, no seu ambiente natural e humano,
são um extraordinário testemunho histórico e é
por isso que elas sistematicamente simbolizam as povoações,
que elas revêem a dimensão do seu passado. A escolha de lugar
para construir uma igreja ou mosteiro não é arbitrária.
A tradição e o imaginário têm um papel preponderante
na sua localização. Associada a práticas cemiteriais
desde a época paleocristã, porque santificou o lugar onde
está implantada, porque o seu local tem um extraordinário
valor referencial, muito dificilmente uma igreja se reconstrói em
sítio diferente do anterior. A sacralização é
sempre telúrica e resistente. Determinações sinodais
impunham que nos locais onde tivesse havido igreja ou capela fosse implantado
um cruzeiro.
Como se compreende, as igrejas acompanham o habitat das populações
e por isso as vemos integradas nas manchas humanizadas, as quais, nas áreas
mais planas, costumam estar sobre as agras e ao lado das veigas e, nas
manchas mais montanhosas e de alvéolos, sobre as encostas. Elas
alicerçam os aldeamentos agrícolas, respondendo às
suas necessidades anímicas de simbolização e de culto
religioso. Sem elas, as comunidades não teriam no seu interior a
socialização e a sacralização de certos ritos
litúrgicos e de passagem – caso das cerimónias e baptismo,
de casamento ou de morte – nem a realização de actos religiosos
que garantissem a protecção de Deus e dos santos para os
residentes e seus bens e também não teriam dentro do seu
espaço as cinzas dos antepassados nem o seu sufrágio. A paroquial,
com a sua torre sineira, é, pois, o símbolo da autonomia
e da interioridade da comunidade.
--------------------
A arquitectura é uma marca constante e avassaladora na história
humana. O abrigo que ela proporciona é uma das mais radicais necessidades
do homem, não só por exigências físicas, mas
também por imperativos psíquicos, sociais e simbólicos.
Sem arquitectura não há verdadeiro “habitar”, sem ela não
há lugar marcado profundamente. Uma época nova, como foi
a românica, na qual se afirmam e expandem comunidades, que assiste
à solidificação de estruturas sociais, marcada profundamente
em todos os seus esquemas mentais pela perspectiva religiosa, iria certamente
expressar-se com uma nova linguagem arquitectónica que teve nas
igrejas os seus melhores testemunhos de criatividade artística e
de realização técnica. Como acontece noutras regiões,
também entre nós a arquitectura militar dos séculos
XII e XIII mostra um notável atraso e uma grande pobreza relativamente
à construção religiosa do mesmo período.

O relativo verticalismo de S. Pedro de Roriz é
típico de muitas igrejas de uma só nave. Aqui, em vez de
uma acanhada fresta ou um janelão, é uma larga rosácea
que ilumina o interior, e, em vez da torre a par da igreja, ergue-se um
campanário.
É nas igrejas que as comunidades, o clero e a nobreza colocam
toda a sua arte arquitectónica. Construía-se a igreja com
magnificência porque ela era “outro templo de Salomão”, porque
ela devia ser uma imagem de Jerusalém celeste. Só uma construção
cuidada se harmonizava com o sagrado sempiterno e poderia resistir ao tempo,
só assim uma igreja prestigiava o encomendador e a comunidade que
servia e que ela simboliza e orienta.
Em arquitectura desenha-se o pensamento e a necessidade. O estilo românico,
a sua arquitectura, é a resposta dada pela sociedade do tempo às
exigências, físicas e funcionais, de espaços construídos
segundo a sua mentalidade e seus modelos simbólicos. Saber por que
caem em desuso formas pré-românicas, por que se aceitam e
se desenvolvem outras, que forças guiaram o aparecimento de uma
nova organização arquitectónica dos espaços
religiosos, é difícil, mas tudo terá de estar relacionado
com as solicitações mentais de então, com as novas
soluções técnicas e o seu simbolismo.
O espaço que as igrejas românicas nos apresentam é
muito mais homogéneo e contínuo que o das construções
anteriores, tem outra elevação, outro ritmo e o seu campo
de percepção tem outra amplitude. A sua modelação
responde, sem dúvida, ao espírito da nova liturgia romana
que se ia impondo e era muito mais teatral que a anterior. O românico
mostra-nos também uma enorme diferença na organização
das massas arquitectónicas e no aspecto exterior dos edifícios.
A fachada, os alçados laterais e sobretudo o aspecto exterior da
cabeceira das igrejas são muito mais cuidados e a sua visualização
denuncia claramente a organização espacial do interior. Uma
igreja pré-românica era mais para ser vista por dentro, ao
passo que a românica é também para ser admirada por
fora. Podemos mesmo dizer que a decoração arquitectónica
românica é mais extensa e vulgar no exterior dos templos que
no seu interior.

Alçado de nave central e do transepto da
Sé Velha de Coimbra. As tribunas (nenhuma outra igreja românica
portuguesa as possui) abrem-se para a nave central por um trifório
de dois vãos correspondentes ao vão simples dos arcos das
colaterais (influência de Santiago de Compostela), num belo ritmo
de proporções.
Esquecidas que foram as motivações religiosas, pré-românicas,
a necessidade e o gosto românicos de decorar fizeram desenvolver
o figurativo que explode exteriormente nos portais, nas fachadas e nas
cachorradas . Desenvolvem-se também os elementos verticais nas superfícies
dos muros.
A opção pelas arcadas multiplicadas, de volta redonda,
a cobrir os vãos e a ambientação de portas e frestas
por meio de repetidas colunas às quais sempre se empresta
um relativo valor arquitectónico são outras tantas soluções
características do românico.
--------------------
A arquitectura românica, para efectivar os traços tridimensionais
com a segurança e a durabilidade que a sua função
e os seus encargos exigiam, utilizou um conjunto de elementos de construção,
segundo uma opção e uma organização que constituem
as formulas arquitectónicas próprias da época e do
estilo românico. Muros, pilares e colunas, arcadas e abóbadas
, contrafortes e aberturas de iluminação são
elementos da construção que serão objecto da análise
a seguir elaborada.
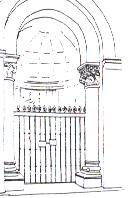
Absidíola da Sé de Braga. O
duplo arco peraltado acentua as linhas verticais acima dos capitéis
e das impostas, que, juntamente com os portais ocidental e do sul, os arcos
diafragmas da nave e numerosos capitéis, é tudo o que resta
da primitiva catedral românica.
Os muros românicos, longos e compactos, habitualmente com pouca
animação, são elementos construtivos fundamentais
não só na vedação dos espaços como também
na função de suporte. São os muros que aguentam e
permitem a solução das pesadas abóbadas. As paredes
são sempre relativamente grossas. Usualmente, o tamanho dos blocos
é de tipo médio, à volta dos 25cmx50cm. Há
porém muitos casos de grande aparelho, ao redor de 70cmx90cm.
A coluna isolada, como elemento de construção
para segurar e organizar naves, não teve aceitação
no românico, a não ser em alguns casos e na parte da cabeceira.
Foi sistematicamente substituída pelo pilar, que, embora gaste mais
material, pode ser feito facilmente porque emprega pequenos blocos.
Outra inovação da arquitectura românica,
é a adopção de meias colunas, embebidas ou adossadas
na construção.
Os pilares românicos, espessos e seguros, dividem, longitudinalmente,
o corpo da igreja em naves e, transversalmente, em tramos .
Para cobrir vãos, para equilibrar muros e pilares e para
apoiar a cobertura, a arquitectura românica utiliza o arco . A arcada,
simples ou ressaltos, é sistema extremamente seguro, desde que bem
contrafortada, e que se adapta facilmente e bem à grossura dos muros
de então. O arco de forma redonda é, sem dúvida, o
mais típico do estilo românico, mas em muitas construções
do séc. XIII dominam já as arcadas algo quebradas, isto é,
feitas por dois segmentos de arco redondo.
A abóbada central, entre nós, está sempre
apoiada em arcos torais.
Em arco terminam também todas as aberturas românicas.
Nos portais, o espaço superior, semi-redondo, da arcada recebe sistematicamente
uma placa, que o encerra, a qual se chama “tímpano” .
Os contrafortes são elementos importantes na estrutura
dos edifícios, no seu ritmo e na sua estática, denunciadores
das preocupações e dos modelos construtivos. Acompanham sistematicamente
as arcadas transversais e os pontos fulcrais onde mais se exerce o peso
das elevações. A forma como se apresentam e lançam,
com mais ou menos ressaltos, a altura relativa que atingem nos edifícios,
o modo como se organizam nas esquinas da fachada, tudo isto tem grande
importância estética, cultural e cronológica. Em redor
das cabeceiras redondas, sempre abobadadas, adoptam ao longo das paredes
rectas apresentam sempre secção quadrangular.
Outro modelo de contraforte é o que utiliza um só
contraforte, que se posiciona lateralmente e na sequência do alinhamento
da fachada, ampliando-a assim para além do corpo da igreja.
A imposta é um elemento de notório valor arquitectónico
ao qual os canteiros românicos prestaram sempre atenção.
Muitas vezes decorada, apresenta variadas modelações denunciadoras
de gostos, de regiões e de épocas diferentes; é um
elemento muito sensível ao longo da evolução dos estilos
medievais.

Capitel e imposta da nave de S. Salvador de Paço
de Sousa. Aqui o relevo é mais gravado que profundamente esculpido;
o desenho impõe-se ao volume. Na imposta desdobra-se um enrolamento
de folhagem, delimitado por escócias; no cesto encontramos pinhas
nos ângulos, palmetas, como folhas de hera estilizadas, unidas por
caulículos, palmas simples.
A imposta tem antecedentes no cimácio pré-românico,
donde resulta. O sistema construtivo românico, com arcos redondos
e com a utilização sistemática de grandes capitéis
, mais arquitectónicos, não tinha a necessidade da forma
suculenta do cimácio. Da redução desta adveio a imposta.
Mas a época românica continuou a enobrecê-la com ricas
decorações e significativas molduras. É uma pequena
placa saliente, que apresenta na parte superior um pequeno filete , talhado
verticalmente, logo seguido de um recorte mais longo que a chanfra para
dentro, muitas vezes à maneira de escócia .
As impostas decoradas mais antigas podem apresentar enxaquetado, embora
este tipo de ornamentação se use até época
muito tardia. Na área de Braga a imposta tem como motivo decorativo
mais típico um tema que resulta da simplificação da
palmeta clássica e no Alto Minho uns elos que lembram conchas de
caracol ou uma decoração linear, grafítica.
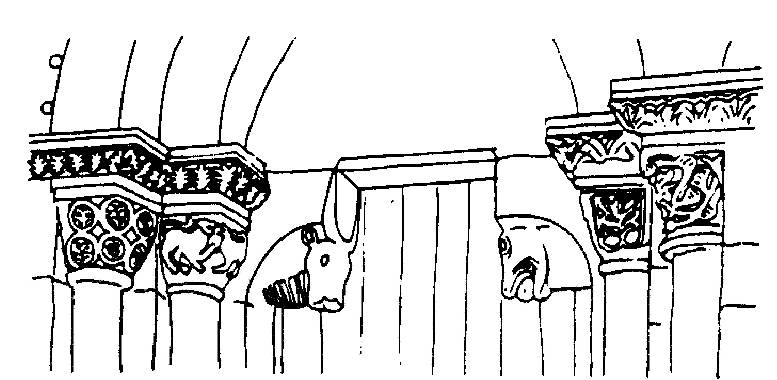
Capitéis e impostas do portal Sul da igreja de
Vila Boa de Quires. As cabeças de touro das consolas em que assenta
o tímpano tinham função protectora, impedindo que
as forças maléficas penetrassem no templo.
Porque o espaço e o recorte dos frisos são habitualmente
os mesmos das impostas, porque arquitectonicamente são estas que
dão a sequência e o alinhamento para aqueles, não admira
que no quadro dos frisos, pelo menos nos da fachada, continuem os mesmos
temas decorativos das impostas do portal.
--------------------
A implantação de uma igreja tem condicionantes de ordem
física e simbólica. No espaço disponível e
escolhido para a sua edificação ele terá de se orientar,
longitudinalmente, para nascente, o que pode originar problemas de construção,
sobretudo quando tal disposição coincide com uma linha de
grande declive. Primacialmente uma igreja serve para funções
litúrgicas, de entre as quais avulta a celebração
da missa. Aos domingos e nos dias de festa deve caber no seu interior toda
a comunidade. Assim, ao analisarmos a organização do seu
espaço, temos de ter em conta esta função e o exercício
dramatúrgico da liturgia, pois são estas as motivações
principais da sua existência. No estudo da arquitectura antiga,
esta perspectiva funcional tem ajudado a resolver muitos problemas. Uma
construção, antes de ser fruto de uma evolução
técnica, é antes de mais a realização de um
programa funcional. A história da arquitectura mostra que os planos
evoluem mais depressa sob a pressão de novas necessidades que pelo
desenvolvimento seminal das suas formas e de novas técnicas.

Claustro, transepto e torre-lanterna da Sé Velha.
Sobre o fundo maciço da fachada lateral, donde se salienta o braço
do transepto, encimado pela torre-lanterna, destaca-se este claustro, gótico
pela estrutura das abóbadas de nervuras, mas cujos arcos redondos,
óculos e contrafortes conservam o sentido formal e as porções
do românico. Inteiramente românico era o claustro de S. João
de Almedina, reconstituído no Museu de Machado de Castro.
O plano das igrejas românicas é quase sempre o de origem
basical, isto é, o que adopta naves e cabeceira, além da
transepto. É este esquema que se adapta mais perfeitamente às
necessidades de grandes espaços, que serve melhor o desenrolar do
serviço litúrgico e a colocação dos assistentes
e que a arquitectura românica ocidental mias sistematiza e aperfeiçoa.
A cabeceira era reservada aos altares, o transepto , era uma parcela destinada
e necessária ao coro canonical ou conventual e as naves eram ocupadas
pelo publico. Este plano adapta-se perfeitamente, e em parte resulta de
uma liturgia clara, que deve ser vista por todos, onde as procissões
são constantes. Por outro lado, é valorizado simbolicamente
por ser cruciforme.
Há também igrejas românicas de planta centrada.
Umas, na sequência de uma tradição arquitectónica
muito antiga, e outras, apenas como templos, com funções
litúrgicas. Este tipo de construção de planta centrada,
ligado aos Templários, explica-se pelo reduzido número de
pessoas a que se destinavam esses espaços e sobretudo porque, tendo
a ordem como casa-mãe o templo redondo do Santo Sepulcro de Jerusalém,
significativamente estimavam construir as suas igrejas segundo esse modelo.
As igrejas que têm uma só nave representam mais
de 90% dos nossos edifícios religiosos onde há testemunhos
românicos. Os outros 10% dividem-se em edifícios com duas,
ou como em alguns casos, com três naves.
Desde os tempos pré-românicos que todas as igrejas
prestigiadas dispunham de torre, tal o seu valor simbólico e prático.
Sinal de poder e de segurança, a sua construção era
ainda necessária para alçar sinos, cujo toque avisava actos
e culto e manifestações de sagrado, como procissões
e ritos de passagem.
Muito vulgarizada nessa época esteve a simples sineira,
que é, habitualmente, um muro pentagonal colocado sobre a empena
da fachada ou sobre a parte reforçada da parede lateral, com uma
ou duas aberturas onde se instalavam os sinos. Sabe-se que estes eram,
nesse tempo, de tamanho muito reduzido e, por isso, esta solução
simples servia perfeitamente.
Algumas igrejas românicas, apresentam sobre a sua frontaria
uma espécie de átrio, fechado e coberto. Esta solução
arquitectónica, que sugere lembranças do nártex
das construções pré-românicas, tem clara motivação
e indiscutível destino cemiterial. Foi, certamente, o hábito
de dificultar o enterramento dentro das igrejas, motivado por uma espécie
de respeito e temor pelo sagrado, que conduziu a esta solução.

S. Pedro de Ferreira. Um adro murado, eco do átrio
dos templos paleo-cristãos, servia de cemitério, de local
de reuniões ou de abrigo provisório, como uma barbacã,
contra incursões de mouros ou outros inimigos. Os sinos do campanário
, à frente, ora tocavam a rebate, ora chamavam à oração
Muito especial atenção devem merecer os vãos –
portais, janelas, frestas, rosáceas e galerias -, com a sua
específica organização e na sua disposição,
devido à enorme importância que têm na visualização
e na afirmação estilística e estética do românico.
De uma maneira geral, a igreja românica tem, pelo menos,
três portais: um axial, na fachada ocidental, e dois outro laterais,
um virado a norte e outro para sul.
Nos edifícios pequenos pode haver simplesmente duas entradas,
a axial, que sempre existe no nosso românico, e uma outra lateral.
A disposição das portadas laterais – muitas vezes situadas
no topo do transepto, por ser este, nas igrejas onde existe, um dos espaços
mais gastos e o centro de gravidade da construção – está
intimamente relacionada não só com o serviço interno
da liturgia e dos seus participantes, como também com a topografia,
os seus acessos e a solução programada, ou já existente,
das edificações anexas. Não há, pois, regras
absolutas e o entendimento perfeito da sua disposição deverá
tentar-se em cada caso concreto.
Pelo menos o portal axial é, habitualmente, bastante profundo,
abrindo-se para o exterior por meio de colunas e arcadas. Nas fachadas
onde há torre, ou torres, o seu volume pétreo está
disfarçado. Nas frontarias sem torres, para se dar a profundidade
requerida pela portada, criou-se um maciço de pedra, onde ele se
abriga. Este corpo saliente, instala-se na parte central da fachada. Raras
vezes sobe até ao limite superior do alçado da frontaria,
à maneira de largo e poderoso contraforte. Geralmente esta massa
pétrea remata-se, logo acima da primeira arcada do portal, em linha
horizontal ou de modo triangular.
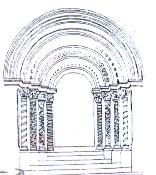
Portal axial de Santiago de Coimbra. Arcos, pilastras
, cornijas , fustes de colunas e capitéis oferecem um magnificente
mostruário da rica ornamentação românica coimbrã.
Motivos geométricos, animais fantásticos, aves, ramos, volutas,
folhas de acanto alastram pelas superfícies calcárias.
Os portais da época românica apresentam-se sempre bem acompanhados,
se falarmos das molduras arquitectónicas que os costumam decorar,
isto é, as modenaturas.

Portal de S. Martinho de Manhente. Com três arquivoltas
redondas de arcos abatidos e ultrapasados, emoldurados por um friso, é
decorado com temas geométricos, bilhetes, dentes de lobo, rosetas,
ovados volutas e fitas.
As arcadas de tipo escada, com aduelas lisas, são a solução
mais antiga, mas também a mais simples e, por isso, este modelo
resiste vigorosamente ao longo do séc. XIII. Pelos meados do séc.
XII começa a desenvolver-se o gosto pelas molduras, toros, escócias
e filetes sobre as aduelas das arcadas, conferindo-lhes outra movimentação.
Sem dúvida, a modenatura das arquivoltas vai-se complicando
cada vez mais ao longo do restante período românico, evolução
que continua durante o gótico.

Arquivoltas do portal de S. Martinho de Manhente. Raros
portais românicos portugueses possuem arquivoltas tão decoradas
nas fases e nos intradorsos: lança floridas (a lança de Longinus),
arcos quebrados e ligados num motivo cordiforme, rolos, quadrifólios,
florões, sucedem-se até ao arco da moldura, com fitas dobradas
em triângulo.
A decoração arquitectónica dos portais e das janelas
é sistematicamente feita por recortes diédricos nos muros,
onde se encostam e abrigam colunas. Esta é mais uma invocação
da época românica, com a coluna a perder o seu carácter
soberano e construtivo, mas alçando um notável valor decorativo,
adaptando-se aos esquemas dos vãos que se idealizam para possibilitar
o seu encaixe.
A luminosidade de um interior românico dever-se-á
valorizar maximamente, não só para definirmos esse estilo,
como também para vermos como ela se adapta à espacialidade
e aos padrões ornamentais das construções e como poderá
estar relacionada com as mentalidade e as vivências religiosas do
tempo. Sem dúvida, por muito que deva aos modelos pré-românicos,
apresenta já importantes inovações, cujo desenvolvimento
irá possibilitar a especial luz e a ambiência do estilo gótico.
Litúrgica e simbolicamente, a iluminação
mais importante no interior da igreja é a do sol-nascente. É
ela que orienta a igreja, o altar e o celebrante. Na cabeceira, a fresta
do topo é um elemento fundamental e está na sequência
da mentalidade religiosa anterior, que valoriza apenas esse foco de luz
com a iluminação das velas, colocadas no chão. O altar
é túmulo, as relíquias estão enterradas ou
são colocadas no seu interior e sobre ele não há nada,
a não ser o cálice.

Cálice de prata dourada (Sé de Braga).
Conhecido como de S. Geraldo, de nítida influência visigótica
e islâmica, parece datar dos fins do séc. X e está
decorado com os motivos vegetais envolvendo um leão e uma águia.
Atribuída a um artífice moçárabe de Coimbra,
esta peça, talvez a mais antiga da nossa ourivesaria sacra, foi
mandada executar por Mendo Gonçalves.
Na época românica aparecem já frestas laterais na
cabeceira e no românico tardio desenvolvem-se aberturas do seu topo,
que aumentam em número e tamanho. No arco cruzeiro, na parte instalada
sobre a arcada da entrada da capela-mor, aparece sistematicamente uma importante
abertura também virada a nascente, a qual na época românica
tende a alargar-se, podendo mostrar-se em dupla fresta, ou em rosácea
mais ou menos desenvolvida.

Frestas da abside de S. João de Longos Vales.
Um friso de rolos (bilhetes) coroa o arco superior; uma espécie
de tímpano com o mesmo motivo corresponde à bandeira da falsa
janela. No capitel da esquerda um homem acocorado segura dois peixes; no
capitel oposto, folhagens túrgidas, trespassadas, encurvam-se nos
extremos
O gosto por uma maior luminosidade leva à revivência, embora
já com adaptações góticas, de uma espécie
de aximez de arcos quebrados e de janelas de duplo lume. Nos topos dos
transeptos há sempre frestas ou, mais tardiamente e nos programas
mais grandiosos, rosáceas. Nos alçados laterais das nossas
igrejas românicas há sempre um alinhamento de frestas, duas,
três ou mais. Nas igrejas de três naves é usual haver
uma em cada tramo. Idêntica distribuição aparece na
parte superior da nave central deste tipo de edifícios, mas aí
as frestas podem dar lugar a aberturas mais amplas formando um cleristório.
Uma fonte de iluminação muito importante, funcional e
arquitectonicamente, é a torre-lanterna, a qual, como o seu nome
indica, tem sempre boas aberturas e cobre o cruzeiro. Ela ilumina e focaliza
um dos mais importantes espaço da igreja, isto é, o local
fronteiro ao altar-mor, onde se instala o coro e onde se fazem as leituras.
--------------------
A arquitectura medieval, para realizar os espaços tridimensionais
– os quais têm necessariamente extensões e clausuras, isto
é, piso, muros e cobertura -, emprega diversos materiais, entre
os quais avultam a pedra, a madeira, o tijolo e alguns metais.
De forma sistemática, os nossos monumentos românicos
têm um aspecto verdadeiramente local. Sem os materiais não
haveria paisagem arquitectural e é por eles que as nossas igrejas
românicas se integram perfeitamente no seu ambiente.

Grade românica de uma capela do claustro
da Sé de Lisboa. primitivamente na charola, é de ferro cortado
e martelado. A decoração é de espiras (volutas) presas
a hastes verticais com cravos e anilhas. Obra única em Portugal,
apresenta semelhanças com outra da Catedral de Oviedo.
A pedra é, naturalmente, na arte românica o material mais
importante, tão sistemático foi o seu emprego na construção,
na decoração e na escultura. É abundante, é
resistente e estava prestigiada para tais funções. Os monumentos
românicos localizados nas manchas graníticas do Noroeste,
da bacia do Douro e das Beiras utilizam exclusivamente essa rocha.
Naturalmente, o encomendador da obra pode ter a preferência
pelo granito de grão fino, em vez do de dente-de-cavalo, preferindo
onerar a construção com um transporte mais longínquo.
A igreja de São Salvador de Arnoso e a de Rio Mau utilizam na fase
primeira das obras, que é também a de maior perfeição,
granito de boa qualidade e passam a empregar pedra de pior aspecto e mais
local na conclusão que nas áreas de granito de dente-de-cavalo,
embora as paredes sejam feitas nessa qualidade de pedra, os artífices
exigiam para as arcadas dos portais e janelas e para os lavores de colunas
e frisos, blocos graníticos de grão fino, que se iam buscar
a alguns quilómetros de distância. O românico em redor
de Guimarães patenteia bem este fenómeno.
O tijolo é um material de construção que
não foi muito utilizado entre nós neste período. Tijoleiras
para os pisos e telha de canal para as coberturas são outros produtos
argilosos utilizados para as construções de então.
Para encher o interior dos muros, sempre bifaciais, além de pequena
pedra, emprega-se o barro com cal.
A taipa, construção feita de barro rico em cal
e pequenas pedras, estava muito vulgarizada na época românica,
principalmente na arquitectura civil.

Túmulo de D. Beatriz (Mosteiro de Alcobaça).
Com a estátua jacente da rainha, cujas vestes são tratadas
num pregueado simétrico, típico do românico, esta arca
tumular de calcário apresenta nas faces laterais arcaturas redondas
ou edículas enquadrando as figuras sentadas dos Apóstolos,
alguns com a mão direita abençoando e mantendo o livro contra
o peito. No facial dos pés, onde foi gravada uma inscrição
no séc. XVII, uma figura coroada está sentada entre vários
homens e mulheres, eventualmente numa cena de lamentação
A madeira é outro material de fundamental importância e
muito usado na arquitectura medieval.
De um modo sistemático, as igrejas românicas rurais
de Portugal, de uma só nave, mostram nas suas paredes laterais e
até na frontaria mísulas e ressaltos próprios para
apoiar e receber alpendres de madeira.
Grande parte das nossas igrejas do tempo, teve, pois, lateralmente,
anexos feitos em madeira. Recorda-se ainda a sua utilização
sistemática, como material básico, nos andares superiores
das casas das nossas cidade e vilas e certamente em muitas parcelas dos
nossos mosteiros.
--------------------
As siglas de canteiro que tão frequentemente vemos nos
muros das construções medievais portuguesas, são testemunhos
de grande importância histórica que nos cumpre valorizar.
Como as marcas dos ourives e os selos dos notários, as siglas reflectem
o prestígio que a arte de canteiro tem nessa época e a organização
do ofício e das oficinas de construção. Estudadas
sistematicamente, com a sua implantação nos muros, elas podem
sugerir-nos critérios para vislumbrarmos o andamento das obras,
fases de construção, mudanças de ritmos e de artistas
e a sua datação. Quando sobre elas tivermos um bom corpus,
com boas atribuições de frequência geográfica
e cronológica, a história da nosso construção
medieval, civil e religiosa, poderá ter significativos avançados.
Nos monumentos onde elas apareçam em todas as pedras, feita a sua
tipologia e contagem, podemos saber quantos canteiros aí terão
trabalhado e, conhecido o ritmo normal do trabalho diário de um
pedreiro, ter noções sobre o tempo demorado na construção.

Pormenor de siglas no tímpano de Arnoso
Parece que as siglas sobre as pedras mais importantes do edifício
ou até as mais frequentes indicam os canteiros mais responsáveis
e eventualmente o mestre da obra.
As siglas fazem parte de um bloco mais amplo, o das “marcas de
posse”, e devem ser compreendidas no âmbito dessa perspectiva mais
geral. O funcionamento das “marcas poveiras”, que veio quase até
aos nossos dias, continuará a ser uma das boas iniciações
para o seu entendimento e das suas formas de uso e multiplicação.
Elas eram feitas, radicalmente, para se atribuir a responsabilidade do
trabalho efectuado e, eventualmente, contabilizar o seu tempo.
Nas paredes das nossas igrejas românicas, para além
de grafitos e de sinais apotropaicos, como as cruzes ao lado das portas,
que são distintas das da sagração, há, sobretudo
em arcadas, outros signos gravados destinados a indicar o local exacto
da pedra na estrutura da parede.
voltar página inícal