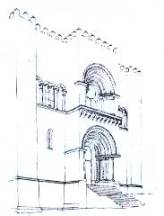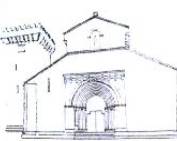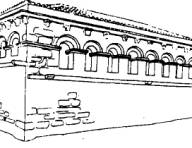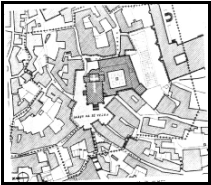O Românico Português
A formação do Reino de Portugal, no séc. XII, é
contemporânea da fase plena do românico e do nascimento do
gótico. A influência francesa, através das ordens de
Cluny e de Cister, a introdução da liturgia romana e da escrita
carolíngia, acompanham o desenvolvimento de um românico tardio
que se manterá vivo em pleno século XIV no Norte, quando
o gótico já alastrava por todo o resto do país.
A arquitectura românica portuguesa é de formas simples,
vincadamente nacionais, com decoração reduzida aos capitéis,
ás colunas e arquivoltas dos portais, às mísulas e
aos cachorros ; nenhum tímpano ostenta as grandiosas decorações
de igrejas francesas e espânicas. É uma arquitectura de granito,
pois localiza-se, na maior parte, em regiões em que esta pedra abunda.
As excepções são as das zonas de Coimbra, Leiria,
Tomar e Lisboa, onde o calcário predomina. A dureza do granito é
um factor de simplicidade decorativa nos templos do Minho e Douro; em Coimbra
a pedra macia deu ensejo a maiores requintes decorativos.
A instabilidade dos tempos também se reflectiu nesta arquitectura,
de paredes sólidas e espessas: as Sés de Braga, Porto, Coimbra,
Lisboa e Évora parecem fortalezas, e as torres e adros murados de
muitas igrejas de pequenas dimensões destinavam-se não só
a servir de campanário como de refúgio de emergência
em caso de invasão de mouros ou castelhanos.
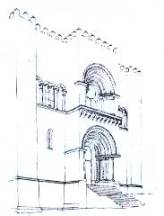
A sé velha de Coimbra, com os seus merlões
de castelo, é uma igreja fortificada, como muitas outras que foram
erguidas no sec. XII: a casa
de oração servia de refugio às gentes
ameaçadas pela guerra. No corpo central, o janelão repete
o motivo do portal, numa concepção a qus se atribui
influência de igrejas de Lombardia.

Nave central da Sé de Évora vista
da capela-mor. A abóbada de berço quebrado, ritmada pelos
arcos torais que separam os sete tramos, já revela a transição
para o gótico. Aqui, como na Sé de Lisboa, não há
uma tribuna sobre as estreitas colaterais, mas uma acanhada galeria
de circulação com trifório de cinco arcos por tramo.
O alastramento do românico partiu de alguns focos, como
Coimbra, Porto, Tui, Braga, etc. É notória a influência
monástica: as igrejas de grande número de pequenos conventos
vieram a servir de igrejas paroquiais. A população rural
pobre e dispersa, ergueu modestas capelas, quase pardieiros, de madeira
ou de alvenaria tosca. A construção de pedra era cara e apenas
os mosteiros, as sés e algumas paróquias ricas se podiam
abalançar a obras de mais grandeza, mantidas, de resto, por doações,
legados e esmolas. Os trabalhos, lentos, começavam pela cabeceira
e podiam arrastar-se por dezenas de anos; o período de maior intensidade
construtiva corresponde ao segundo quartel do séc. XIII.
Embora seja limitada a área do nosso românico, este, pela
sua duração ou por influências diversas, ganhou aspectos
locais, podendo distinguir-se vários grupos. A partir do Norte,
o primeiro grupo é o do Alto Minho até ao Lima, região
que pertencia à diocese de Tui, em que a influência Galiza
se faz sentir nitidamente. As igrejas mais antigas são as de Bravães,
Ermelo, Friestas, Longos Vales, Rio Mau, Rubiães e S. Cláudio
de Nogueira, com decoração abundante de folhagem, animais
e toscas figuras humanas nos capitéis ou adossadas aos portais.
Aos meados e fins do século XIII pertencem os templos de Chaviães,
Melgaço, Monção, Cerade, S. João de Távora
e outros, em que se manifesta uma feição gótica na
decoração, mais plana e com um temática reduzida aos
elementos vegetais e florais; os animais raramente aparecem.
O grupo de Sé de Braga, o mais numeroso, caracteriza-se pelas
igrejas de três naves, com arcos diafragmas, pelos tímpanos,
com laçarias e cruzes vazadas, pelos animais afrontados nos ângulos
dos capitéis e das arquivoltas e por temas geométricos e
vegetais muito estilizados (Sé de Braga, Arões, Cárquere,
Couceiro, Pitões das Júnias, Travanca e outras igrejas).
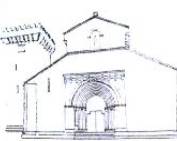
S. Salvador de Travanca é uma igreja de três
naves, definidas no alçado da fachada, com o corpo central mais
alto, tipo que já vinha das basílicas romanas e que seria
depois adoptado nas igrejas góticas das Ordens de S. Domingos e
de S. Francisco. O portal está inserido num rectângulo, com
um alfiz muçulmano. A torre já é gótica.
Ao foco da Sé do Porto pertencem as igrejas de Águas Santas,
Cabeça Santa, Cedofeita, Freixo de Baixo e algumas da Beira Alta:
Armamar, Ermida de Paiva, Senhora da Fresta. O tipo de capitel é
pequeno e frequentemente se ábaco ou imposta, com decoração
animalesca ou vegetal de relevo talhado em bisel pouco acentuado. São
típicos os toros diédricos das arquivoltas, prolongando,
com a mesma espessura, as colunas ou os colunelos (portal de Travanca).
Os mosteiros de Ferreira e de Paço de Sousa estão no
centro de um grupo que compreende as igrejas de Airães, Boelhe,
Fonte Arcada, Roriz, e Vila Boa de Quires, todos dos meados do século
XIII ou posteriores. É um românico tardio, com os portais
profundos e muito decorados, de colunelos prismáticos e redondos,
com bolas nas arquivoltas, rodeados por um friso saliente ou plano com
decoração geométrica; as cornijas assentam em arcaturas,
e não em cachorros. O portal insere-se num corpo saliente, encimado
por uma espécie de gablete, em Airães, Ferreira e S. Vicente
de Sousa.

S. Vicente de Sousa. O portal está inserido
num corpo saliente pentagonal, moldura cuja parte superior, angulosa, corresponde
a um frontão , origem próxima do glabete dos portais góticos.
As saliências a meio da parede lateral são mísulas
onde assentavam as traves de um pórtico ou galeria de madeira
As igrejas do foco de Coimbra, caracterizado pelo emprego do calcário,
distribuem-se por três fases: a mais antiga (condal) é do
primeiro terço do século XII; com típicos capitéis
de animais foi representada pela Igreja de S. João de Almedina e
Colegiada de S. Pedro, cuja influência chegou a Entre Douro e Minho
(Rates, S. Pedro das Águias e S. Martinho de Mouros). A segunda
(afonsina), influenciada pela arquitectura de Auvergne, engloba as Igrejas
de Santa Cruz, a Sé Velha, S. Salvador e outras (século XII).
Finalmente, a terceira fase (sanchina) é a de Santiago de Coimbra
e S. Pedro de Leiria.
O grupo do românico cisterciense, sóbrio, inspirado em
abadias francesas, apresenta contudo aspectos peculiares. S. João
de Tarouca e as abadias de Salzedas, de largo transepto e com as naves
laterais com abóbadas transversais apoiando a abóbada da
nave principal, de berço quebrado, têm colunas ou pilastras
adossadas sob arcos torais.
--------------------
Entre a arquitectura românica civil de índole pública,
merece realce a construção de pontes, pelos benefícios
que traziam, pelos meios e técnicas que exigiam e pela transformação
da paisagem que sempre ocasionavam. A história das vias medievais
é a história dos caminhos regionais, os que serviam populações
e cidades próximas. Nisto se distinguem bem das romanas. A partir
do séc. XII, e até ao séc. XIV, arranjar calçadas
e construir pontes são actos considerados, acima de tudo, como obra
de piedade. Reis, eclesiásticos e nobres deixavam nos seus testamentos,
ao lado de legados para missas, donativos para a construção
de pontes. Foi isso que possibilitou uma grande actividade pontística
românica, notabilíssima de técnicas e resultados. Se
os castelos revelam um certo atraso técnico relativamente ás
igrejas, já não acontece o mesmo com as pontes.

Exemplo de Ponte na arquitectura civil
Mais que as pontes romanas, as pontes medievais cuidam os seus alicerces,
o que as ajudou a resistir melhor ao tempo. Empregam sistematicamente grandes
arcos, o que favorecia a passagem de águas e de madeiras trazidas
pelas cheias e que são causa de tanta destruição.
A grande altura dos arcos levou os construtores a optarem, pela solução
de ponte de dupla rampa, isto é, em cavalete. Desenvolvem amplamente
os talhamares de jusante. São, porém, muito mais estreitas
que as romanas. Normalmente não excedem os quatro metros e meio
de largo.
É conhecida a importância, na Idade Média, dos
conselhos das cidades, de vilas e terras e a frequência das reuniões.
Nas cidades e em muitas vilas o conselho tinha casa própria até
para guardar as arcas com a documentação e bens. O melhor
exemplo de casa, para este efeito, é a Domus Municipalis de Bragança.
É um edifício pentagonal que incorpora na sua parte inferior
uma cisterna, abobada em três tramos. A parte superior consta de
uma grande sala, como banco de pedra em redor, iluminada por uma série
grande de janelas, muito seguidas, próximas umas das outras. Coberta
em madeira, o remate da sua parede apresenta, interna ou externamente,
modilhões quadrangulares, pouco salientes, de aspecto tardio.
No lado interior há diferenças ornamentais nas janelas que
podem significar a primitiva organização do seu espaço.
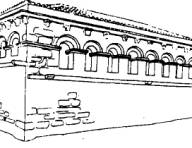
Domus Municipalis de Bragança. É
o um dos poucos monumentos civis do nosso românico; sala iluminada
por fiadas de janelas de arcos de volta redonda, assentes em impostas,
exprimindo o gosto por arcarias, arcadas e arcaturas. A cornija assenta
em modilhões decorados.
O local mais decorado seria o de maior prestígio, isto é,
o sítio da presidência. É possível que na solução
primitiva esta sala tivesse algumas divisões. Esta obra, que tem
na cisterna uma das grandes razões da sua existência, classificada
muitas vezes como sendo do século XII é, porém, mais
tardia. Embora uma dos escudos de cachorro possa ter sido gravado na época
moderna, o tipo de decoração dos outros modilhões,
as pontas em diamante de algumas aberturas e a própria organização
das janelas indicam-nos que este edifício deverá datar-se
dos princípios do séc. XIV ou, quando muito, da parte final
do séc. XII.
Amando as peregrinações e as viagens, a época
românica procurou proteger os peregrinos e caminhantes, não
só fazendo pontes, como vimos, mas também construindo albergarias,
pousadas e leprosarias. Podemos dizer que em Portugal, nas cidades e vilas
e ao longo dos caminhos e ruas mais frequentados, tínhamos centenas
destes estabelecimentos, sobre os quais, arquitectonicamente, pouco se
conhece.
--------------------
A cidade ganha prestígio e vai-se impondo cada vez mais às
terras vizinhas, criando o seu termo. É ainda na época românica
que se forja uma nova significação para a palavra “vila”,
a qual começa a designar uma núcleo populacional mais ou
menos concentrado, com o artesanato e comércio, cercado por uma
muralha, mas que não tinha tradição de sede episcopal.
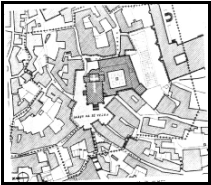
Centro urbanistico da cidade velha de Coimbra
A partir da época românica toda a cidade, para além
do castelo, tende a ter uma cerca urbana que procurava abranger, pelo menos,
o seu núcleo central. Todas apresentam, neste período cerca
amuralhada, aproveitando geralmente elementos de épocas anteriores,
romana ou árabe. Embora o fenómeno das grandes cercas urbanas
seja, compreensivelmente, entre nós e na Europa, um facto mais próprio
e mais sistemático nos séculos XIV e XV, os antecedentes
das cidades românicas e o clima de guerra e de razias que tanto marcava
a época favoreceram a construção de perímetros
muralhados em todas elas. Não havia cidades abertas entra nós.
As portas são habitualmente designadas pela direcção
da via que delas partia, com excepção da saída para
o lado sul ou sudeste, a qual, por ser zona de possíveis sinais
diurnos feitos com espelhos, muitas vezes se designava como “porta do Sol”.
As cercas da Idade Média tardia multiplicam muito mais as aberturas
e começam a ser designadas pelo nome dos santos a quem vão
sendo dedicadas.
As ruas são elementos essenciais na organização
e usufruição do espaço urbano. Locais de passagem,
de convívio, boca de todas as actividades, são elas que nos
dão a paisagem urbana. Tendencialmente, o seu crescimento foi-se
operando ao lado das grandes entradas, mormente no acesso principal mais
rápido, tantas vezes dito, por isso, “rua direita”, e também,
respeitada a distância relativamente à muralha, em redor desta,
em circunvalação.
Situadas, de modo geral, em colinas, compreende-se que não
nas apresentem um urbanismo regular e geometrizado.
Por regra, as ruas de comércio e artesania eram também
carrárias, isto é, as mais largas e socializadas. Nestas,
as casas apresentam forma alongada, com a parte estreita virada à
rua, e têm, por regra, tenda no rés-do-chão e sobrado
para habitação.
A cidade era um cento de produção artesanal, de trocas
e de economia monetária. A loja que vendia tinha também oficinas
que faziam e consertavam. Por motivos diversos, por solidariedade variadas,
às vezes consagradas em confraria, já se nota a tendência
para a especialização profissional das ruas, como por exemplo,
rua dos ferreiros, dos pelames, dos couros, entre outros. A cidade românica
era também muito aberta e abrigava sem conflito, no seu interior,
grandes alteridades, no religioso, no profano e no étnico. Muito
mais que a cidade gótica
voltar página inícal