

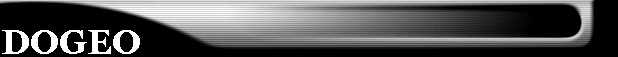
Geografia do Brasil - Geologia
CARACTERÍSTICAS, FORMAÇÃO DO ESPAÇO NATURAL BRASILEIRO E ESTRUTURA GEOLOGICA.
Caracterização do espaço natural brasileiro Extensão territorial

0 território brasileiro e imenso. Sua área, de 8.547.403,5 km2, e comparável A de continentes, como o da Oceania (8.935.000 km2) e o da Europa (10.171.000 km2). Dai o use da expressão pais-continente para se referir ao Brasil. Esta extensa área lhe confere as seguintes posições nos âmbitos regional, continental e mundial:
• Na América do Sul: l° lugar, seguido por Argentina (2.780.272 km2), Peru (1.285.216 km2), Colômbia (1.141.748 km2) e Bolívia (1.098.581 km2).
• Na América: 3° lugar, antecedido pelo Canadá (9.970.610 km2) e pelos Estados Uni dos (9.372.614 km2). Se considerarmos apenas a área continua dos Estados Unidos, isto e, sem o Alasca e o Havaí (7.852.155 km2), c Brasil fica com o 2° lugar.
• No mundo: 5° lugar, antecedido pelos seguintes países: Rússia (17.075.400 km2) Canadá (9.970.610 km2), China (9.571.30( km2) e Estados Unidos (9.372.614 km2). Em terras contínuas, o Brasil ocupa o 4° lugar Observe a figura 5.1.
A área territorial brasileira corresponde a:
• 1,6% da superfície total da Terra; • 6% das terras emersas;
• 20,8% do continente americano; • 47,7% da América do Sul.
Localização geográfica limites e pontos extremos
0 Brasil ocupa a porção oriental da América do Sul. E cortado ao norte pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. Em decorrência disso, 93% do seu território situa-se no hemisfério sul e 92% na zona tropical.
Os limites territoriais do Brasil totalizam 23.086 km, dos quais 7.408 km com o Oceano Atlântico e 15.719 km com países vizinhos. Na América do Sul, só o Chile e o Equador não se limitam com o Brasil. As direções e as respectivas áreas limítrofes são:
• Norte: Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana e Venezuela.
• Noroeste: Colômbia. • Oeste: Peru e Bolívia.
• Sudoeste: Paraguai e Argentina. • Sul: Uruguai.
• Nordeste, Leste e Sudeste: Oceano Atlântico.
Os pontos extremos do Brasil são os seguintes:
• Norte: nascente do Rio Ailã, no Monte Caburaí, Roraima, fronteira com a Guiana, a 5°16' de latitude norte.
• Sul: Arroio Chuí, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, a 33°44' de latitude sul. • Leste: Ponta do Seixas, Paraíba, a 34°47 de longitude oeste.
• Oeste: nascente do Rio Moa, na Serra Contamana, no Estado do Acre, fronteira com o Peru, a 73°59' de longitude oeste.
As distâncias máximas entre os pontos extremos norte e sul e leste e oeste do território brasileiro são enormes e quase equivalentes. Observe na figura 5.3 a distancia:
• norte-sul: 4.394 km;
• leste-oeste: 4.319 km.

Formação do espaço natural brasileiro
Por elementos naturais do espaço entende-se a estrutura geológica, o relevo, o clima, a vegetação e a hidrografia, entre outros.
Embora cada um desses elementos apresente a sua individualidade, existe profunda interação e interdependência entre os diferentes componentes da paisagem natural. 0 clima, por exemplo, ao mesmo tempo que interfere em vários elementos, como a vegetação, o relevo, a hidrografia, também é influenciado por eles.
0 espaço natural brasileiro começou a ser formado há alguns bilhões de anos, junto com as massas continentais.
Diversas evidências indicam que desde o surgimento das primeiras massas continentais (há 4 ou 4,5 bilhões de anos) até por volta de 180 a 200 milhões de anos atrás, os atuais continentes encontravam-se reunidos em um único supercontinente denominado (Pan, "tudo"; gea, "terra").
A partir de então, supõe-se que teve início um longo processo de deslocamento das placas tectônicas, gerado por imensas pressões internas. A Pangéia dividiu-se, dando origem a vários blocos continentais, que vieram a formar os atuais continentes. Observe as figuras 5.6, 5.7 e 5.8.

Os cientistas supõem que, por volta de 180 a 200 milhões de anos atrás, a Pangéia começou a separarse, compondo dois grandes blocos continentais (Laurásia e Gondwana), cuja subdivisão originou os atuais continentes.

Há 65 milhões de anos, a América do Sul, provavelmente, já estava separada da África, mas ainda não se ligara à América do Norte. As Montanhas Rochosas, a Cordilheira dos Andes e demais cordilheiras atuais ainda não existiam.

Finalmente, nos últimos 50 milhões de anos, continentes e oceanos assumiram, aproximadamente, a configuração atual.
Como parte da Pangéia, e mais tarde do bloco continental sul-americano, o território brasileiro também é produto das transformações físicas, químicas e biológicas que se processaram ao longo dos últimos 4 ou 4,5 bilhões de anos.
Isso significa que a estrutura geológica (tipos de rocha), a geomorfologia (formas de relevo) e os demais elementos naturais (clima, vegetação, hidrografia) resultam da dinâmica processada e comandada pela própria natureza ao longo do tempo.
Há pouco mais de 65 milhões de anos, a América do Sul ainda estava separada do restante do continente americano, e não existiam as cordilheiras que hoje ocupam a porção oeste deste continente (Rochosas e Andes).
A separação entre o bloco continental sul-americano e o africano, a junção da América do Norte com a América do Sul, a formação das cordilheiras e o estabelecimento da atual configuração e do contorno do continente americano processaram-se nos últimos 65 milhões de anos.
Por volta de 40 ou 50 milhões de anos atrás, quando a América teria recebido seus primeiros habitantes, o contorno e a geografia física do continente já estavam praticamente delineados.
Estrutura geológica do Brasil
0 território brasileiro é formado, basicamente, por dois tipos de estrutura geológica: os escudos cristalinos e as bacias sedimentares.
As formações serranas originaram-se de dobramentos antigos, ou seja, que existiram antes da Era Cenozóica. Por exemplo: os dobramentos que originaram a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira existiram na Era Arqueozóica, e os que originaram a Serra do Espinhaço, na Era Proterozóica.
Áreas cratônicas: terrenos arqueozóicos e proterozóicos
Além de ser geologicamente estáveis, os crátons têm grande importância econômica porque abrigam as principais jazidas de minerais metálicos, como ferro, manganês, cobre. Por serem muito antigos, a ação dos agentes externos do relevo (clima, rios, mar etc.) modelou-os, dando origem a formas arredondadas, os planaltos cristalinos. Do território brasileiro, 36% corresponde aos escudos cristalinos, assim distribuídos:
• 32% são da Era Arqueozóica. Esses terrenos, os mais antigos do país, são constituídos por rochas magmáticas intrusivas ou internas (como o granito) e metamórficas (como o gnaisse) e formam o chamado Embasamento ou Complexo Cristalino Brasileiro;
• 4% são terrenos da Era Proterozóica, em que predo
minam as rochas metamórficas. Possuem grande importância econômica porque neles se localizam as principais jazidas de minerais metálicos do país. É o caso das jazidas de ferro do Quadrilátero de Ferro (MG), da Serra dos Carajás (PA) e do Maciço de Urucum (MS); das jazidas de manganês da Serra do Navio (AP); da bauxita de Oriximiná (PA); da cassiterita de Rondônia.
Podemos também considerar os escudos cristalinos em dois grandes blocos: o Escudo das Guianas, situado ao norte, e o Escudo Brasileiro, que abrange as porções central, leste e sul do país e se encontra subdividido em várias partes denominadas núcleos ou escudos propriamente (Sul-Amazônico, Atlântico, Uruguaio-Sul-Rio-Grandense).

- Bacias sedimentares
As bacias sedimentares cobrem 64% da área total do Brasil e classificam-se, quanto à extensão, em grandes bacias (Amazônica, do Meio-Norte, Paranaica, São-Franciscana e do Pantanal) e pequenas bacias (do Recôncavo Baiano, de São Paulo, de Curitiba).
Quanto à idade, classificam-se em:
• antigas: paleozóicas (São-Franciscana e Paranaica), mesozóicas (Meio-Norte e do Recôncavo); e
• recentes: cenozóicas terciárias (Central e Costeira), e quaternárias (Amazônica e do Pantanal).
0 petróleo extraído no Brasil é proveniente tanto de bacias sedimentares continentais (por exemplo, a Bacia do Recôncavo Baia no), como de bacias sedimentares marítimas (por exemplo, a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro). Quanto ao carvão mineral, as principais jazidas e a quase totalidade da produção encontram-se na Região Sul, a maioria em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.
- Dobramentos modernos (ou cadeias orogênicas recentes)
Correspondem às grandes cadeias montanhosas do globo, de origem recente, datados do Terciário da Era Cenozóica. Sua gênese é explicada pela teoria da tectônica de placas que veremos mais adiante. Os grandes exemplos são: Andes, Rochosas, Alpes, Himalaia. Por serem de formação recente ainda não foram muito desgastados pela erosão e apresentam elevadas altitudes. Não há dobramentos modernos no Brasil.
RELEVO BRASILEIRO
0 relevo brasileiro apresenta grande variedade morfológica (de formas), como: serras, planaltos, chapadas, depressões, planícies e outras, resultado da ação, principalmente, dos chamados agentes externos sobre estruturas geológicas de diferentes naturezas e idades. Os agentes externos que mais participaram da formação do relevo brasileiro foram o clima (temperatura, ventos, chuvas) e os rios.
Em sua porção continental, não apresenta formas oriundas da atuação recente dos agentes internos (vulcanismo, tectonismo), como as elevadas montanhas que caracterizam as cordilheiras de tipo andino, alpino e himalaio.
Apesar de as estruturas geológicas que lhe deram origem serem em geral antigas, as formas atuais de nosso relevo foram esculpi das ao longo, principalmente, do Período Terciário e do início do Quaternário. Esses dois períodos pertencem à mais recente das eras geológicas: a Cenozóica.
No aspecto altimétrico, o relevo brasileiro é caracterizado pelo predomínio de altitudes relativamente modestas. Apenas um ponto do território ultrapassa 3.000 metros de altitude: o Pico da Neblina (3.014 m), ponto culminante (mais alto) do Brasil, localizado no Estado do Amazonas, próximo à fronteira com a Venezuela. Mais de 99% do relevo brasileiro possui altitudes inferiores a 1.200 metros
0 predomínio de altitudes medianas deve-se, de um lado, à inexistência de dobramentos modernos e, de outro, à intensa ação erosiva que ao longo do tempo desgastou as velhas estruturas geológicas mais salientes do território brasileiro. A tabela 6.1 confirma o caráter modesto dessas altitudes.
No mapa hipsométrico (altitudes) da figura 6.2, podemos observar, por exemplo, que:
• apesar de o ponto culminante estar situado no norte do país, a maior concentração de terras altas encontra-se na porção sudeste;
• quase a totalidade do relevo possui altitudes inferiores a 800 metros.
Brasil: Cotas Altimétricas
terras baixas 41,00%
0 a 100 metros 24,90%
101 a 200 metros 16,91%
terras altas 58,46%
201 a 500 metros 37,03%
501 a 800 metros 14,68%
801 a 1200 metros 6,75%
áreas culminantes 0,54%
1200 a 1800 metros 0,52%
acima de 1800 metros 0,02%
Classificações do relevo brasileiro
As primeiras classificações do relevo brasileiro datam da primeira metade do século XIX e refletem o estágio embrionário em que se encontravam os nossos conhecimentos geológicos e geomorfológicos.
De modo geral, eram classificações incompletas e baseadas em critérios teórico-metodológicos inconsistentes ou confusos. Algumas definiam as unidades de relevo misturando denominações geomorfológicos com geológicas, por exemplo: planalto cristalino, em que planalto é um conceito geomorfológico e cristalino (tipo de rocha) é um conceito geológico. Outras classificações deixavam de mencionar importantes unidades do relevo.
A classificação de Aroldo de Azevedo

Criada em 1949 e ainda em uso, apesar de não incorporar alguns novos conhecimentos adquiridos sobre o relevo brasileiro, a classificação de Aroldo de Azevedo ganhou larga aceitação no país devido, entre outros fatores:
- à preocupação do autor em dar um tratamento mais coerente às unidades do relevo. Assim, ao denominar as grandes unidades do relevo como planaltos e planícies (Planalto Meridional, Planície Amazônica), Aroldo de Azevedo valorizou a terminologia geomorfológica. A terminologia geológica foi utilizada apenas para as subunidades ou unidades menores. Por exemplo: Planalto Arenito-Basáltico (subunidade do Planalto Meridional) e Chapadas Sedimentares (subunidade do Planalto Central);
- ao cuidado do autor em identificar as áreas bem individualizadas, tanto em relação às características topográficas quanto às geológicas;
- à sua simplicidade e originalidade.
Em artigo intitulado "0 relevo brasileiro e seus problemas", Aziz Nacib Ab’Saber, discípulo de Aroldo de Azevedo e também autor de outra classificação, assim se referiu à proposta pelo mestre:
"[...1 A originalidade dessa nova contribuição residiu na bela pesquisa que o autor fez sobre as velhas e modernas classificações do relevo brasileiro e na concisa análise crítica por ele realizada em torno das classificações que lhe pareceram mais importantes. [...1 "Por último queremos lembrar que é sobretudo pelas subdivisões propostas para o relevo brasileiro que a classificação de Aroldo de Azevedo merece especiais elogios, pois representou um sério trabalho de reconhecimento preliminar de unidades de relevo mais ou menos bem individualizadas, a despeito mesmo de sua delimitação imprecisa. [...1" AB’SABER, Aziz N. In: AZEVEDO, Aroldo (org.). Brasil; a terra e o homem, v. 1, cap. I II.
Aroldo de Azevedo dividiu o Brasil em sete grandes unidades de relevo: quatro planaltos (das Guiarias, Central, Atlântico e Meridional) e três planícies (Amazônica, Costeira e do Pantanal). Observe o mapa da figura 6.3.
A classificação de Aziz N. Ab’Saber

Em 1962, o renomado geógrafo Aziz N. Ab’Saber propôs nova divisão do relevo brasileiro contando, em algumas regiões, com o uso da aeroiotogrametria, que consiste em medições precisas por meio da fotografia aérea. Apesar de ter incorporado outros conhecimentos sobre o relevo brasileiro (acréscimos de novas unidades etc.), manteve grande parte da proposta elaborada por Aroldo de Azevedo.
Aziz N. Ab’Saber compreendeu o Planalto Atlântico como duas unidades (Planalto Nordestino e Serras e Planaltos do Leste e Sudeste) e acrescentou à nova divisão dois outros planaltos (o do Maranhão-Piauí e o UruguaioSul-Rio-Grandense), elevando para dez o total de grandes unidades do relevo brasileiro. Observe o mapa da figura 6.4.
Novas técnicas para classificar o relevo brasileiro
Ao contrário das classificações. anteriores, em geral elaboradas com base em da dos obtidos em longas viagens, por terra, no extenso território brasileiro, a classificação de Jurandyr L. S. Ross resultou do emprego de uma tecnologia mais avançada.
De 1970 a 1985, o Projeto RadamBrasil fotografou todo o território brasileiro por meio de um radar instalado na fuselagem de um avião. Esse trabalho constituiu completo e minucioso levantamento da geologia, da geomorfologia e dos recursos naturais (solos, vegetação, hidrografia, minérios etc.) do país.
Do relevo obteve-se informações de tal modo precisas, que foi possível identificar com clareza os diferentes tipos e as verdadeiras dimensões das unidades de relevo existentes. A Planície Amazônica, por exemplo, que nas classificações de Aroldo de Azevedo e Aziz N. Ab’Saber abrangia uma área de aproximadamente 2 milhões de km2, ficou reduzida a apenas 5% desse total (cerca de 100 mil km’). Os 95% restantes correspondem, na verdade, a outras formas de relevo (depressões, planaltos).
0 Planalto Central, outra extensa unidade morfológica, deixou de ser assim considerado. Foi dividido em diversas unidades morfológicas, nenhuma das quais herdou o nome original. Também deixaram de ser consideradas as denominações Planalto das Guianas e Planalto Meridional.
Atualmente, grande parte da produção cartográfica brasileira, e mundial, é realizada com modernas técnicas. Leia o texto do quadro abaixo.
Na classificação de Jurandyr L. S. Ross, além de o número de grandes unidades geomorfológicas aumentar para 28, foi introduzi do um conceito geomorfológico: o de depressão. Nas classificações anteriores, o relevo brasileiro compreendia planaltos e planícies.
0 que são planalto, planície e depressão, de acordo com o estudo de Jurandyr L. S. Ross?
Planalto é uma superfície irregular com altitude acima de 200 metros, resultante da erosão em rochas cristalinas ou sedimentares. Forma de relevo predominante no país, o planalto pode ter morros, serras e chapadas (elevações íngremes de topo plano). Observe a figura 6.5.

Planície é uma superfície plana, geralmente com altitude inferior a 100 metros, formada pelo acúmulo de sedimentos (figura 6.6).

Depressão é uma superfície com suave inclinação e formada por prolongados processos de erosão. Menos irregular do que o planalto, situa-se em altitudes que vão desde 100 até 500 metros ou mais.
As depressões continentais podem ser relativas ou absolutas. São relativas quando situadas abaixo do nível das regiões vizinhas, porém acima do nível domar. São absolutas quando situadas abaixo do nível do mar, ou seja, abaixo de zero metro de altitude. Veja a figura 6.7.

No Brasil só existem depressões relativas. É o caso da Depressão do Vale do Rio Paraíba do Sul, situada entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Como exemplo de depressão absoluta pode ser citado o Mar Morto, na Palestina, situado a 395 metros abaixo do nível do mar.
A classificação de Jurandyr L. S. Ross

0 critério utilizado por Jurandyr L. S. Ross e sua equipe de geógrafos leva em conta a estrutura geológica na gênese das formas de relevo (fator estrutural), mas valoriza sobretudo a geometria ou modelado (fator escultural ou morfológico) que essas formas apresentam. Por isso, nesta classificação o primeiro nível é essencialmente geomorfológico, representado pelos planaltos, depressões e planícies. 0 segundo nível considera o caráter estrutural (geológico) dos planaltos. Assim, aparecem os planaltos esculpidos em bacias sedimentares, em núcleos cristalinos. Este nível não abrangeu as depressões porque, segundo o autor, "constituem superfícies de erosão embutidas por entre os planaltos, e algumas delas se estendem por mais de uma estrutura, definindose mais pelo caráter escultural".
0 terceiro nível define nominalmente cada uma das unidades geomorfológicas, tanto as de planalto como as de planície ou de depressão. Por exemplo: Planalto da Borborema, Depressão do Araguaia e Planície do Rio Amazonas.
Importância desta classificação
Em razão da maior complexidade e do detalhamento que essa classificação apresenta em relação às classificações de Aroldo de Azevedo e de Ab’Saber, sua importância ultrapassa o âmbito escolar, permitindo o conhecimento pormenorizado do relevo brasileiro, fundamental no planejamento do país. Por exemplo, na definição de políticas de ocupação agrícola, de proteção ao meio ambiente, de exploração dos recursos naturais, de colonização. 0 conhecimento detalhado do relevo possibilita melhor aproveitamento e proteção do mesmo.
Observe, na figura 6.8, o mapa do relevo organizado por Jurandyr L. S. Ross e sua equipe de geógrafos, em que estão indicadas as 28 macrounidades, denominadas unidades morfoesculturais.
Unidades dos planaltos
Em sua grande maioria, as unidades de planalto apresentam-se como formas residuais, ou seja, restos de antigas superfícies erodidas. De acordo com Jurandyr L. S. Ross, "o caráter residual decorre do fato de que tais planaltos estão circundados por extensas áreas de depressões relativas e que por conseguinte põem em ressalto os relevos mais altos que ofereceram maior dificuldade ao desgaste erosivo".
As unidades de planalto são em número de onze e abrangem a maior parte do território brasileiro. Os mais extensos planaltos são: Planalto da Amazônia Ocidental, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba e Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste.
Unidades das depressões
As unidades das depressões relativas continentais foram geradas por processos erosivos ocorridos no contato das extremidades das bacias sedimentares com maciços antigos. Esses processos erosivos originaram os diferentes tipos de depressões existentes no território brasileiro: periféricas, marginais, interplanálticas e outras.
A depressão periférica é uma área deprimida que aparece na zona de contato entre terrenos sedimentares e cristalinos. Tem forma alongada. Exemplo: a Depressão Periférica da Borda Leste da Bacia do Paraná. A depressão marginal margeia as bordas de bacias sedimentares. Exemplo: a Depressão Sul-Amazõnica e Norte-Amazõnica. A depressão interplanáltica é uma área de altitude mais baixa que a dos planaltos que a circundam. Exemplo: Depressão Sertaneja e do São Francisco.
As unidades das depressões são em número de onze e constituem a segunda mais importante forma de relevo existente no Brasil. As principais são as seguintes: Depressão Marginal Norte-Amazõnica, Depres
são Marginal Sul-Amazõnica, Depressão Sertaneja e do São Francisco e Depressão Periférica da Bacia do Paraná.
Unidades das planícies
As unidades das planícies correspondem às áreas de relevo essencialmente plano, formadas pela deposição recente de sedimentos de origem marinha, fluvial e lacustre.
Na proposta de Jurandyr L. S. Ross, as planícies ocupam, relativamente aos planaltos e às depressões, pequena superfície.
A Planície do Rio Amazonas constitui uma estreita faixa de terras planas que margeiam o Rio Amazonas e seus afluentes, incluindo a Ilha de Marajó.
Três grandes perfis que resumem nosso relevo (Por Jurandyr Ross)
Região Norte
Este corte (perfil noroeste-sudeste) tem cerca de 2000 quilômetros de comprimento. Vai das altíssimas serras do norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela, Colômbia e Guina, até o norte do Estado de Mato Grosso. Mostra claramente as estreitas faixas de planície situadas às margens do Rio Amazonas, a partir das quais seguem-se amplas extensões de terras altas: planaltos e depressões.

Região Nordeste
Este corte tem cerca de 1500 quilômetros de extensão. Vai do interior do Maranhão ao litoral de Pernambuco. Apresenta um retrato fiel e abrangente do relevo da região: dois planaltos (da Bacia do Parnaíba e da Borborema) cercando a Depressão Sertaneja (ex-Planalto Nordestino). As regiões altas são cobertas por mata. As baixas, por caatinga.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste
Este corte, com cerca de 1500 quilômetros de comprimento, vai do Estado de Mato Grosso do Sul ao litoral paulista. Com altitude entre 80 e 150 metros, a Planície do Pantanal está quase no mesmo nível do Oceano Atlântico. A Bacia do Paraná, formada por rios de planalto, concentra as maiores usinas hidrelétricas brasileiras.

Pequeno dicionário técnico (as definições que aparecem abaixo aplicam - se ao mapa de relevo do Brasil elaborado por Jurandyr L.S.Ross) (Extraído de: Nova Escola - outubro/1995)
Depressão: superfície entre 100 e 500 metros de altitude com suave inclinação, formada por prolongados processos de erosão. É mais plana do que o planalto. O mapa escolar de Jurandyr é o primeiro a aplicar esse conceito.

Planalto: ao contrário do que sugere o nome, é uma superfície irregular com altitude acima de 300 metros. É o produto da erosão sobre rochas cristalinas ou sedimentares. Pode ter morros, serras ou elevações íngremes de topo plano (chapadas).

Planície: superfície muito plana com no máximo 100 metros de altitude. É formada pelo acúmulo recente de sedimentos movimentados pelas águas do mar, de rios ou de lagos. Ocupa porção modesta no conjunto do relevo brasileiro.

Escarpa: terreno muito íngreme, de 100 a 800 metros de altitude. Lembra um degrau. Ocorre na passagem de áreas baixas para um planalto. É impropriamente chamada de serra em muitos lugares, como na Serra do Mar, que acompanha o litoral.
Serra: terreno muito trabalhado pela erosão. Varia de 600 a 3000 metros de altitude. É formada por morros ou cadeias de morros pontiagudos (cristas). Não se confunde com escarpa: serra se sobe por um lado e se desce pelo lado oposto.

Tabuleiro: superfície com 20 a 50 metros de altitude em contato com o oceano. Ocupa trechos do litoral nordestino. Geralmente tem o topo muito plano. No lado do mar, apresenta declives abruptos que formam as chamadas falésias ou barreiras.

Relevo submarino e litoral
Introdução
O relevo submarino é subdividido em quatro partes: Plataforma continental, Talude, Região Abissal e Região Pelágica.

1. Plataforma Continental
É a continuação do continente (SIAL), mesmo submerso. Possui profundidade média de 0 a 200 m, o que significa que a luz solar infiltra-se na água, o que gera condições propícias à atividade biológica e ocasiona uma enorme importância econômica - a PESCA. Há também, na plataforma continental, a ocorrência de petróleo.
-Talude: Desnível abrupto de 2 a 3 km. É o fim do continente.
-Região Abissal: Quando ocorre aparece junto ao talude e corresponde às fossas marinhas.
-Região Pelágica: SIMA - é o relevo submarino propriamente dito, com planícies, montanhas e depressões.
Surgem aqui as ilhas oceânicas:
- Vulcânicas, como Fernando de Noronha
- Coralígenas, como o Atol das Rocas
2. Litoral
Corresponde à zona de contato entre o oceano e o continente; em permanente movimento, possui variação de altura - as marés, que são influenciadas pela Lua.
Quando, durante o movimento das águas oceânicas a sedimentação supera o desgaste, surgem as praias, recifes e restingas. Quando o desgaste (erosão) supera a sedimentação, surgem as falésias (cristalinas ou sedimentares).
Restinga


Falésia


Fonte: Extraído do Panorama Geográfico do Brasil - Melhem Adas
O litoral brasileiro é pouco recortado. Esse fato ocorre em função da pobreza em glaciações quaternárias que atuaram intensamente nas zonas temperadas do globo. O poder erosivo das geleiras é imenso.
· O litoral norte brasileiro apresenta a plataforma continental mais larga, pois muitos rios (entre eles o Amazonas), ali deságuam, despejando uma quantidade enorme de sedimentos. O litoral nordestino possui a mais estreita plataforma continental.
· Principais lagoas costeiras: dos Patos e Mirim (RS); Conceição (SC); Araruama (RJ).
· Ilhas Costeiras Continentais: Santa Catarina (Florianópolis); São Francisco (SC); São Sebastião (Ilha Bela); Santo Amaro (Guarujá).
· Ilha Costeira Aluvial: Marajó
· Ilha Vulcânica: Fernando de Noronha
· Baías: Todos os Santos (BA); Guanabara (RJ); Paranaguá (PR); Laguna (SC); Angra dos Reis e Parati (RJ).
SOLOS
1. Introdução
O solo (agrícola) é constituído por rocha intemperizada, ar, água e matéria orgânica, formando um mato que recobre a rocha em decomposição.
2. Intemperismo Físico ou Desagregação Mecânica
Na superfície da crosta terrestre as rochas expostas estão sujeitas a grande variação diuturna e/ou anual de temperatura e, portanto, grande variação no seu volume, decorrente da dilatação e contração dos minerais que as constituem. Essa dinâmica rompe, divide a rocha em fragmentos cada vez menores.
3. Intemperismo ou Decomposição Química
Decorre da reação química entre a rocha e soluções aquosas. Caso a rocha tenha sofrido prévio intemperismo físico a decomposição química se acelera por atuar em fragmentos da rocha, ou seja, a superfície de contato aumenta.
O intemperismo (químico ou físico) está diretamente relacionado ao clima. Na região Amazônica, onde a pluviosidade é elevada e a amplitude térmica pequena, há intensa ação química. No Deserto do Saara, onde a pluviosidade é baixíssima e a variação diuturna de temperatura muito alta, há intensa ação física, decorrente da variação de temperatura.
Ao sofrer intemperismo a rocha adquire maior porosidade, com decorrente penetração de ar e água, o que cria condições propícias ao surgimento da vegetação e conseqüente fornecimento de matéria orgânica ao solo, aumentando cada vez mais a sua fertilidade.
4. Horizontes do Solo

A matéria orgânica, fornecida pela flora e fauna decompostas, é encontrada principalmente na camada superior da massa rochosa intemperizada que, ao receber ar, água e matéria orgânica, transformou-se em solo agrícola. Essa camada superior é o Horizonte A. Logo abaixo, com espessura variável relacionada ao clima, encontramos rocha intemperizada, ar, água e pequena quantidade de matéria orgânica - Horizonte B. Em seguida, encontramos rocha em processo de decomposição - Horizonte C - e, finalmente, a rocha matriz - Horizonte D - que originou o manto de intemperismo, ou solo, que a recobre. Sob as mesmas condições climáticas, cada tipo de rocha origina um tipo de solo diferente, ligado à sua constituição mineralógica.
Ex: Basalto - Terra Roxa.
Gnaisse - Massapê
OBSERVAÇÃO : Solos sedimentares ou Aluvionais não apresentam horizontes.

5. Erosão Superficial
Corresponde ao desgaste do solo e apresenta três fases:
Intemperismo - Transporte - Sedimentação. Depois de intemperizados, os fragmentos de rocha estão livres para serem transportados pela água que escorre pela superfície (erosão hídrica) ou pelo vento (erosão eólica). No Brasil, o escoamento superficial da água é o principal agente erosivo. À medida em que o horizonte A é o primeiro a ser desgastado, a erosão acaba com a fertilidade natural do solo.
A intensidade da erosão hídrica está diretamente ligada à velocidade de escoamento superficial da água; quanto maior a velocidade de escoamento, maior a capacidade da água transportar material em suspensão e, quanto menor a velocidade, mais intensa a sedimentação.
A velocidade de escoamento depende da declividade do terreno - em áreas planas a velocidade é baixa - e da densidade da cobertura vegetal. Em uma floresta a velocidade é baixa pois a água encontra muitos obstáculos (raízes, troncos, folhas) a sua frente e, portanto, a infiltração de água no solo é alta. Em uma área desmatada a velocidade de escoamento é alta e, portanto, a infiltração de água é pequena.
6. Conservação do Solo
a) Rotação e associação de culturas
Toda monocultura (A) mineraliza o solo pois a planta retira certos minerais (X) e repõe outros (Y). Deve-se, temporariamente, substituir (ou associar) a cultura (A) por outra (B), que retire os minerais repostos por A e reponha no solo os minerais retirados.
b) Controle de Queimadas
A prática de queimada acaba com a matéria orgânica dos solos. Somente em casos especiais, na agricultura, deve-se praticar a queimada para acabar com doenças e pragas.
c) Plantio em curvas de nível e Terraceamento
Curvas de nível são linhas que unem pontos com a mesma cota altimétrica.
Tal prática diminui a velocidade de escoamento superficial da água e, em decorrência, a erosão.
7. Erosão Vertical
A - Lixiviação - é a lavagem dos sais minerais hidrossolúveis (sódio, potássio, cálcio, entre outros), praticada pela água que infiltra no solo, o que lhe retira fertilidade.
B - Laterização
· a formação de uma crosta ferruginosa
· a laterita, vulgarmente chamada Canga - via formação de hidróxidos de ferro e alumínio, o que chega a impedir a penetração de raízes no solo.
A lixiviação e a laterização são sérios problemas em solos de climas tropicais, onde o índice pluviométrico é elevado.