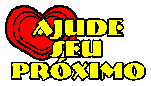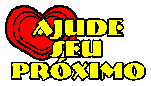|
|
<<
Página Anterior
- Próxima
Página >>
Calvinismo,
teologia cristã do reformador da Igreja João
Calvino. Dentre
seus dogmas incluem-se a soberania absoluta de Deus e a doutrina da
justificação por meio da fé.
Para Calvino, não existia o livre arbítrio; ele elaborou também
uma doutrina da predestinação.
A Bíblia constitui a única norma para uma vida de fé. Muitos de
seus princípios tiveram implicações sociais, como o que determina
que a economia e o trabalho penoso fazem parte da virtude moral. No
século XVII, em muitos lugares o calvinismo foi adotado por grupos
protestantes, como o movimento huguenote
na França e o puritanismo
na Inglaterra.
Luteranismo ,
principal denominação protestante, iniciada com o movimento
liderado por Martinho
Lutero, no
século XVI. Tinha como objetivo a reforma da Igreja Cristã do
Ocidente.
Doutrina e práticas
O luteranismo proclama a autoridade definitiva da
Palavra de Deus. A salvação é um presente da graça
soberana e a fé, a única forma para se chegar à salvação.
A Bíblia
é considerada o núcleo fundamental do culto luterano. O
luteranismo também recomenda a consulta aos Livros
Apócrifos do
Antigo Testamento e aceita a autoridade dos três credos ecumênicos
(Apóstolos, Nicéia e Atanásio), contidos no Livro
da Concórdia.
Os sacramentos foram reduzidos ao batismo
e à eucaristia
porque, segundo a interpretação luterana das Escrituras, somente
estes dois foram instituídos por Cristo. Sem alterar demais a
estrutura da missa
medieval, o luteranismo estimulou a participação comunitária no
culto. Ao contrário dos sacerdotes católicos romanos, o clero
luterano pôde contrair matrimônio.
No que se refere à organização e ao governo da
Igreja, as comunidades luteranas européias estão vinculadas a seus
respectivos governos como igrejas oficiais. Nos países
não-europeus, as igrejas são organizações religiosas
voluntárias.
História
A evolução inicial do luteranismo foi influenciada
pelos acontecimentos políticos. O imperador Carlos
V não pôde
impedir o avanço luterano porque estava ameaçado pelos turcos.
Seguiram-se guerras religiosas intermitentes que terminaram com a Paz
de Augsburgo
(1555), onde foi determinado que a religião do governante de um
território, dentro do Sacro Império Romano, deveria ser a mesma de
seus súditos. Desta forma, as igrejas luteranas receberam
autorização oficial para acolher fiéis. Após a Guerra
dos Trinta Anos,
o luteranismo sobreviveu e consolidou-se.
As origens do pietismo
remontam ao final do século XVII quando foi proclamada a conversão
individual, que revitalizou o luteranismo na Alemanha, permitindo
que a Reforma se estendesse a outros países. Durante o século
XVIII, a teologia luterana refletiu-se no racionalismo, exacerbado
pelo Iluminismo. No século XIX, o teólogo alemão Friedrich
Schleiermacher (1769-1834) enfatizou a experiência religiosa
universal e exerceu grande influência sobre os luteranos liberais.
Ao mesmo tempo, o idealismo
— principal movimento da filosofia moderna alemã — teve
profundos efeitos no pensamento teológico luterano. No século XX,
a neo-ortodoxia existencialista
do teólogo calvinista suíço Karl Barth (1886-1968) foi a
influência mais importante na teologia luterana.
Presbiterianismo ,
forma de governo dentro de uma Igreja dos movimentos presbiteriano e
reformada. As Igrejas integradas nesta tradição originaram-se da Reforma
protestante do século XVI.
O governo dos anciãos caracteriza a organização
das Igrejas Presbiteriana e reformada. Sua estrutura mescla
elementos democráticos e hierárquicos. O poder equilibra-se entre
as congregações e os corpos maiores do governo eclesiástico. Cada
congregação é governada por uma sessão ou consistório e está
integrada a um presbitério que coordena suas atividades em uma
área geográfica. Os membros do presbitério são pastores e
anciãos de um conjunto de congregações. A autoridade de nomear
sacerdotes pertence ao presbitério. Os presbíteros pertencem aos
sínodos, unidades geográficas maiores, a uma assembléia ou a um
sínodo geral que representa toda a Igreja.
As raízes do presbiterianismo estão na teologia de
João Calvino
(1509-1564), cujo objetivo era estabelecer uma igreja governada pelo
princípio do Novo Testamento, que fala do dever do ancião.
Calvino, contudo, não insistiu em que o presbiterianismo fosse a
única forma de governo permitida pela Bíblia. Ver também Calvinismo.
Embora a Bíblia seja a autoridade máxima, as
Igrejas prebisterianas também são conhecidas como Igrejas
confessionais por emitirem declarações sobre teologia e práticas
eclesiásticas. O culto presbiteriano permite flexibilidade nas
formas e práticas, mas baseia-se na definição de Calvino sobre as
características da Igreja: a proclamação do Evangelho e a
celebração dos sacramentos.
Jesuítas ,
ordem religiosa da Igreja
Católica,
fundada por santo
Ignácio de Loyola
em 1534 e aprovada pelo papa Paulo III em 1540. Seu objetivo é o de
difundir a fé católica por meio da pregação e do ensino. Desde o
início, a educação foi sua principal atividade. Seus membros
fazem votos de pobreza, castidade e obediência e os professos
acrescentam mais dois: aceitar ir ao lugar escolhido pelo Papa e
renunciar a qualquer ofício eclesiástico que não seja em sua
ordem, a menos que o determine a autoridade da Companhia. A
direção da ordem está nas mãos de um superior geral, que reside
em Roma. Este cargo é vitalício, eleito pela congregação geral
da ordem.
As missões
jesuíticas
obtiveram também muito êxito. O trabalho mais conhecido do Novo
Mundo foi a fundação das reduções
ou comunidades de indígenas, onde ensinavam-se métodos agrícolas
seguindo as tradições autóctones e favorecendo o desenvolvimento
do comércio.
A história da Companhia de Jesus foi marcada por
uma constante oposição a seu trabalho, especialmente nos países
católicos. Em várias ocasiões, a ordem foi expulsa de diferentes
países europeus, até que em 1814 o papa Pio VII a restabeleceu em
todo o mundo.
Missionários, Movimentos ,
grupos e organizações leigos ou religiosos que têm como objetivo
ampliar o número de crentes de sua religião.
O cristianismo,
religião missionária por natureza, foi, em primeiro lugar,
propagado pelos apóstolos.
A igreja primitiva se estendeu rapidamente e, após sua total
institucionalização, as ordens religiosas sistematizavam o
trabalho das missões e aplicavam os ensinamentos da Igreja na
América e no Oriente Próximo.
Após a Reforma,
católicos e protestantes se empenharam em ativos programas de
missões.
A Sociedade Missionária para a Divulgação do
Conhecimento Cristão foi criada na Inglaterra, em 1698, com
objetivo de tornar públicas as diretrizes da comunidade
protestante. Com a mesma finalidade foi criada em 1701, nas
colônias britânicas, a Sociedade para a Promulgação do
Evangelho.
Atualmente, nenhuma religião é mais engajada e
militante na atividade missionária do que o Islã.
A jihad, um dos cinco preceitos islâmicos, prega a guerra
santa a fim de conquistar mais fiéis.
Felipe,
São (século
I), um dos primeiros discípulos de Jesus
Cristo, nascido
em Betsaida. Os três primeiros evangelhos e os Atos dos apóstolos
referem-se a ele como um dos 12 apóstolos. Anteriormente havia sido
seguidor de João
Batista. Segundo
a tradição, morreu crucificado.
Evangelho segundo São Mateus ,
primeiro livro do Novo Testamento.
Os antigos escritores cristãos acreditavam que este
livro era o primeiro dos Evangelhos sinópticos - desta idéia
deriva sua localização no princípio do Novo Testamento - e
atribuíam-no a São Mateus, um dos 12 apóstolos. Sustentavam,
também, que Mateus escreveu o Evangelho
na Palestina, pouco antes da destruição de Jerusalém, em 70 d.C.
Embora ainda exista quem mantenha esta opinião, a maioria dos
especialistas assegura que o Evangelho mais antigo é o de São
Marcos.
Conteúdo
O Evangelho de Mateus estrutura-se em torno de cinco
discursos de Jesus
Cristo.
A narração introdutória, capítulos 1 e 2, traz a
genealogia de Jesus até o patriarca Abraão
e o rei Davi, incluindo uma série de dados sobre o nascimento e
infância de Jesus (Mt.1,18; 2,23).
A primeira narrativa, capítulos 3 e 4, está
dedicada a João Batista, ao batismo e tentação de Jesus e ao
começo de seu ministério público. Em seguida, nos capítulos 5 a
7, vem o Sermão da Montanha (ver Bem-aventuranças.
Neste sermão está incluído o Pai-nosso
(Mt.6,9-13).
A segunda narrativa (Mt.8,1; 9,38) apresenta
exemplos da capacidade de Jesus para curar os enfermos com o poder
da fé. No segundo discurso (Mt.10, 1-42), Jesus ordena a seus 12
discípulos curar e pregar "às ovelhas perdidas da casa de
Israel" (Mt.10,6), assinalando as condições para o
apostolado.
A terceira narrativa, capítulos 11 e 12, relata a
crescente oposição dos fariseus às obras e pregações de Jesus.
A temática do terceiro discurso (Mt.13,1-52) é o reino dos céus.
Este discurso inclui as parábolas do semeador (Mt.13,18-23), da
cizânia (Mt.13,24-30) e do grão de mostarda (Mt.13,31-32).
A quarta narrativa (Mt.13,53; 17,27) começa com a
história da discriminação que sofre Jesus pelos habitantes de sua
cidade (Mt.13,53-58), dá conta da morte de João Batista
(Mt.14,3-12), de uma série de curas milagrosas, de um milagre de
São Pedro, da revelação de natureza e vocação divinas de Jesus
(Mt.16,13-20), do anúncio da Paixão, Ressurreição e
Transfiguração (Mt.17,1-8). O quarto discurso (Mt.17,24-18;35)
refere-se à Igreja e às condições para que ela se viabilize,
assim como ela deverá ser administrada.
A quinta narrativa, capítulos 19 a 22, descreve a
última viagem de Jesus pela Judéia até Jerusalém, incluindo a
entrada na cidade e a expulsão dos vendilhões do Templo. O último
discurso importante divide-se em duas partes. Na primeira (capítulo
23), Jesus critica os fariseus e escribas. Na Segunda, capítulos 24
e 25, Jesus explica aos discípulos os sinais de sua vinda e do fim
do mundo (Mt.24,3). Também lhes fala, nas parábolas da figueira
(Mt.24,32-33), das dez virgens (Mt.25,1-3), dos talentos
(Mt.25,14-30) e sobre a chegada do reino dos céus, descrevendo o
Juízo Final.
A unção de Jesus, a traição de que é objeto, a
última ceia, a agonia e sua prisão no jardim de Getsemani, seu
julgamento, crucificação, morte e sepultura são relatados na
primeira das duas narrativas culminantes, capítulos 26 e 27. A
Ressurreição de Cristo e a ordem aos discípulos para que
transformem todas as pessoas em novos discípulos (Mt.28,19), fazem
parte da última narrativa.
Elementos característicos
A influência de Mateus no cristianismo foi
dominante. Além de sua importância teológica na formulação da
doutrina - importância compartilhada apenas com o Evangelho de São
João, sua versão dos fatos mais célebres (Sermão da Montanha,
Pai Nosso e as histórias da Paixão) é mais conhecida que os
relatos paralelos dos demais Evangelhos.
Evangelho segundo São Marcos ,
segundo livro do Novo Testamento.
Os indícios mais antigos relativos ao autor do hino
de Marcos provêm do historiador da igreja Eusébio de Cesaréia
(século III) que cita Pápias, um escritor ainda mais antigo. Este,
por sua vez, cita uma afirmação relativa ao Evangelho de são
Marcos feita por uma figura mais remota, a quem chama o ‘Presbítero’
(em grego, presbyteros significa ‘mais velho’) "E
costumava dizer o Presbítero: ‘Marcos, ao ser o intérprete de
Pedro, escreveu com exatidão, mas não em ordem, o que recordava
que havia sido dito e feito pelo Senhor’".
Na opinião de Pápias, o citado Marcos era João
Marcos, primo de Barnabé, mencionado em Atos
dos Apóstolos (Heb.,
15;37,39) em várias epístolas de Paulo
- Col 4,10; II Tim, 4,11 e Fil., 24 - e em I Pedro (5,13). No
capítulo 13 de seu Evangelho, Marcos se refere à destruição de
Jerusalém como um acontecimento iminente ou ocorrido recentemente.
Em conseqüência, ainda que os especialistas não saibam se devem
datar o texto pouco antes, ou pouco depois, de 70 d.C.,
é certo que não ele não foi escrito muito distante desta data.
Conteúdo
O Evangelho relata a história do Jesus
adulto: do momento de seu batismo, por João Batista, até sua
crucificação e a mensagem do anjo anunciando sua ressurreição.
Os episódios iniciais, encenados na Judéia, descrevem a atividade
de João Batista, o batismo de Jesus e sua tentação por Satã, no
deserto. Em seguida, o cenário é trasladado para a Galiléia (Mc.1,14)
e, durante a maior parte do Evangelho, o leitor percorre as diversas
regiões do norte de Palestina, especialmente os arredores do mar da
Galiléia onde Jesus prega sobre o reino de Deus e cura os enfermos.
Em seguida, Jesus dirige-se ao sul (Mc.10,1), rumo
à Judéia. Do capítulo 11 até ao final do Evangelho, os
acontecimentos se desenvolvem em Jerusalém e em seus arredores,
onde se desenrolam a prisão, a crucificação e o sepultamento de
Jesus. Quando algumas mulheres dirigem-se à tumba para
encarregar-se do corpo, descobrem que está vazia. Um anjo, então,
ordena-lhes comunicar o fato aos discípulos, mas elas, por temor,
nada falam com ninguém.
Existem duas tradições textuais para a conclusão
do Evangelho. A maioria dos manuscritos gregos têm o "final
longo", encerrados no capítulo 16, versículo 20. Existe uma
versão que acaba no capítulo 16, versículo 8. Entre os
especialistas, a opinião dominante é que a versão mais curta é a
mais antiga. Isto é, Marcos terminou seu Evangelho em 16,8 e um
escriba do século II, considerando que o final era insatisfatório,
baseou-se no Evangelho de Lucas para compor uma conclusão mais
aceitável.
Evangelho segundo São Lucas ,
terceiro livro do Novo Testamento.
A tradição da Igreja, que data este evangelho no
final do século II, atribui sua autoria a "Lucas, o médico
querido" (Col. 4,14), um dos "meus colaboradores" (Fil.
1, 24) mencionado por São Paulo. A mesma tradição também
considera Lucas
o autor de Atos dos Apóstolos que, juntamente com o Evangelho que
leva seu nome, costuma ser considerado uma obra maior nos primeiros
anos do cristianismo. A maioria dos especialistas modernos aceitam
que Lucas é o autor de ambos os livros, embora alguns, — devido
à contradição entre as cartas de Paulo e o que dele se conta em
Atos dos Apóstolos —, duvidem que Lucas e Paulo estivessem
estreitamente associados durante a obra missionária deste último.
Atualmente, acredita-se que o Evangelho de Lucas foi
escrito na década de 70 a 80 d.C.
Conteúdo
O contexto de Lucas é o mesmo do Evangelho de São
Marcos. Mas Lucas ampliou o relato de Marcos através de duas
importantes interpolações (Lc.6,20;8,3; 9;51,18,14).
O Evangelho de Lucas pode ser dividido em seis
seções:
– prólogo (1,1-4)
– relatos do nascimento e infância de Jesus
(1,5-2,52)
– o ministério de Jesus na Galiléia (3,1-9,50)
– a viagem de Jesus à Galiléia e Jerusalém
(9,51-19,48)
– a pregação em Jerusalém (20-21)
– paixão, ressurreição e ascensão de
Jesus(22-24)
O prólogo, onde Lucas expõe suas razões para
escrever o Evangelho e a autoridade para fazê-lo, está dirigido ao
"ilustre Teófilo" (1,3).
A narração de Lucas sobre o nascimento e infância
de Jesus foi a mais importante para dar forma à celebração
cristã do Natal. Desta parte foram retirados os grandes hinos
conhecidos como Magnificat
(1;46,55) e Benedictus (1;68,79).
O relato de Lucas a respeito do ministério de Jesus
na Galiléia é similar, com poucas exceções, ao do Evangelho de
Marcos.
Por outro lado, em Lucas, a descrição da viagem de
Jesus até Jerusalém, atravessando a Samaria
(9,51;19,48) contém informações que não aparecem nem em Marcos,
nem em Mateus. É, sobretudo, esta parte - denominada, por numerosos
especialistas, "seção especial de Lucas" - a que oferece
as qualidades distintivas deste Evangelho.
Para seus relatos acerca do ministério de Jesus em
Jerusalém (Lc. 20-21) e da Paixão e Ressurreição (Lc.22-24),
Lucas volta a recorrer a Marcos, acrescentando à narração apenas
as últimas palavras de Jesus aos discípulos (Lc.22;21,38), suas
palavras a caminho da cruz (Lc.23;28,31), as palavras dos dois
ladrões crucificados (Lc.23;39,43), as aparições de Cristo
ressuscitado no caminho de Emaús e em Jerusalém (Lc.24;13,49) e a
Ascensão de Jesus (Lc.24;50,53).
O Evangelho de Lucas foi escrito para os gentios. O
objetivo declarado do evangelista é a universalidade. Lucas, —
mais que Mateus e Marcos —, tenta situar a pessoa e o ministério
de Jesus dentro do tempo e do mundo.
Lucas,
São (século
I d.C.), no Novo Testamento, amigo de São
Paulo e, ao que
parece, bastante fiel durante o período de encarceramento do
apóstolo. (Rom. 16,21; 1Tim. 4,11). Segundo a tradição
eclesiástica, foi médico e autor do livro Atos
dos apóstolos e
do terceiro evangelho
sinóptico.
Galileu (Galileu Galilei)
(1564-1642), físico e astrônomo italiano que, junto com o
astrônomo alemão Johannes
Kepler, começou
a revolução científica que culminou com a obra do físico inglês
Isaac Newton.
Sua principal contribuição para a astronomia
foi o uso do telescópio para a observação das manchas solares,
vales e montanhas lunares, os quatro satélites maiores de Júpiter
e as fases de Vênus. No campo da física,
descobriu as leis que regem a queda dos corpos e o movimento dos
projéteis. Em seu tratado intitulado Diálogo sobre os sistemas
máximos (1632), defendeu a teoria de Copérnico, segundo a qual
a Terra gira ao redor do Sol. Galileu foi chamado a Roma pela Inquisição,
que o acusava de "suspeita grave de heresia ". Finalmente,
foi obrigado a abjurar em 1633 e condenado à prisão perpétua,
pena que foi diminuída para prisão domiciliar.
A última obra de Galileu, Discursos e
demonstrações matemáticas sobre duas novas ciências,
publicada em Leiden em 1638, revisa e aprimora seus primeiros
estudos sobre o movimento e os princípios da mecânica em geral.
Este livro abriu o caminho que levou Newton a formular a lei da gravitação
universal.
Galileu simboliza a defesa da investigação
científica sem interferências filosóficas e teológicas. O Papa João
Paulo II abriu em
1979 uma investigação sobre a condenação eclesiástica do
astrônomo e em outubro de 1992 foi reconhecido o erro do Vaticano.
Joana d'Arc
(1412-1431), chamada a ‘Donzela de Orléans’, heroína nacional
e santa padroeira da França. Uniu a nação em um momento crítico
e deu um rumo decisivo à guerra
dos Cem Anos em
favor da França.
Em plena guerra dos Cem Anos, Joana convenceu Carlos
VII de que tinha
a missão divina de salvar a França. Desse modo, ela foi posta à
frente de tropas, com as quais conduziu o exército francês a uma
vitória decisiva sobre os ingleses em Patay.
No ano 1430, dirigiu uma operação militar contra
os ingleses em Compiègne, perto de Paris, onde foi capturada e
levada perante um tribunal eclesiástico, em Ruán, que a julgou por
heresia e bruxaria; em 30 de maio de 1431, ela foi enviada à
fogueira na praça do Mercado Velho.
Vinte e cinco anos depois de sua morte, a Igreja
revisou seu caso e a declarou inocente. Foi canonizada em 1920 pelo
papa Benedito XV.
Crucificação ,
modalidade de execução que consiste em atar ou pregar a vítima
numa cruz. Foi uma forma usual de pena de morte do século VI a.C.
até IV d.C., principalmente entre os persas, egípcios,
cartagineses e romanos. Os romanos a utilizavam para executar
escravos e criminosos, mas nunca a aplicavam em seus próprios
cidadãos. Esta prática foi abolida por Constantino I, em 337, por
respeito a Jesus
Cristo, que
morreu na cruz e se converteu no símbolo maior do cristianismo.
A crucificação de Cristo é relatada no Novo
Testamento pelos quatro evangelistas (Mat. 27,33-44; Mc. 15,22-32;
Lc. 23,33-43; Jo. 19,17-30).
Via-crúcis,
série de 14 cruzes que relembram os fatos da Paixão de Cristo e
suas conseqüências imediatas. A Via-crúcis completa é, de fato,
um modelo da via dolorosa, rota pela qual Cristo foi conduzido ao Calvário.
As estações da cruz têm considerável importância como
exercício devocional na Igreja
católica; o
devoto medita e reza em cada uma delas.
Calvário ,
colina nos arredores da antiga Jerusalém, onde teve lugar a crucificação
de Jesus Cristo. Designa
também a representação das cenas da paixão e morte de Jesus
Cristo na cruz
E Deus fez a Luz (Teoria do Big-Bang)
Cosmologia ,
estudo do Universo em seu conjunto, incluindo teorias sobre sua
origem, evolução, estrutura em grande escala e seu futuro. O
estudo mais específico da origem do Universo e de seus sistemas
astronômicos, como o Sistema
Solar, é chamado
de cosmogonia.
As primeiras teorias cosmológicas importantes
devem-se ao astrônomo grego Ptolomeu,
e a Nicolau
Copérnico, que
propôs em 1543 um sistema em que os planetas giravam em órbitas
circulares ao redor do Sol. Tal sistema foi modificado pelo sistema
de órbitas elípticas descrito por Johannes
Kepler.
Em 1917 o astrônomo holandês Willen de Sitter
desenvolveu um modelo não estático do Universo.Em 1922 esse modelo
foi adotado pelo matemático russo Alexander Friedmann e em 1927
pelo sacerdote belga Georges Lemaitre, que introduziu a idéia do
núcleo primordial. Lemaitre afirmava que as galáxias são
fragmentos proporcionados pela explosão desse núcleo, dando como
resultado a expansão do Universo. Esse foi o começo da teoria da
Grande Explosão (Big Bang) para explicar a origem do Universo,
modificada em 1948 pelo físico russo naturalizado americano George
Gamow.
Gamow disse que o Universo se criou numa gigantesca
explosão e que os diversos elementos que hoje se observam foram
produzidos durante os primeiros minutos depois dessa Grande
Explosão (Big Bang), quando a densidade e a temperatura
extremamente alta fundiram partículas subatômicas,
transformando-as nos elementos químicos. Por causa de sua
elevadíssima densidade, a matéria existente nos primeiros momentos
do Universo expandiu-se rapidamente.
Ao expandir-se, o hélio e o hidrogênio esfriaram e
se condensaram em estrelas e galáxias.
Um dos problemas não resolvidos no modelo do
Universo em expansão é saber se o Universo é aberto ou fechado
(isto é, se se expandirá indefinidamente ou se voltará a se
contrair).
Sistema solar, sistema formado pelo Sol,
nove planetas e
seus satélites, asteróides,
cometas e
meteoritos, além de poeira e gás interplanetário. Supõe-se que a
fronteira entre o Sistema Solar e o espaço interestelar, chamada de
heliopausa, esteja a 100 unidades astronômicas (uma UA equivale a
150 milhões de quilômetros)
Os planetas se dividem em dois grupos: os planetas
interiores (Mercúrio,
Vênus, Terra
e Marte) e os
planetas exteriores (Júpiter,
Saturno, Urano,
Netuno e Plutão).
Os interiores são pequenos e se compõem sobretudo de rocha e
ferro. Os exteriores (exceto Plutão) são os maiores e se compõem
principalmente de hidrogênio, gelo e hélio.
Outros componentes do Sistema Solar são os asteróides.
Os corpos menores que giram ao redor do Sol se chamam meteoróides
(ver Meteoros
e Meteoritos).
Parte da poeira planetária pode também vir dos cometas.
Movimento dos planetas e de seus satélites.
Se fosse possível olhar o Sistema Solar por cima do
pólo norte da Terra, veríamos que os planetas se movem ao redor do
Sol na direção contrária ao movimento dos ponteiros do relógio.
Todos os planetas, exceto Vênus e Urano, giram sobre seu eixo na
mesma direção. Todo o sistema é bastante plano; só as órbitas
de Mercúrio e Plutão são inclinadas. A de Plutão é tão
inclinada que tem momentos que se aproxima mais do Sol que Netuno.
Tanto Júpiter como Saturno e Netuno têm um ou mais
satélites que se movem a seu redor em órbitas retrógradas (no
sentido dos ponteiros do relógio). Os cometas mostram órbitas
elípticas ao redor do Sol.
Teorias sobre a origem
Apesar de suas diferenças, os membros do Sistema
Solar parecem ter se originado ao mesmo tempo. As teorias atuais
sobre a origem do Sistema Solar associam sua formação com a do
Sol, ocorrida há 4 bilhões e 700 milhões de anos. A
fragmentação e o colapso gravitacional de uma nuvem interestelar
de gás e poeira, provocados pela explosão de uma supernova
próxima, podem ter conduzido à formação da nebulosa solar
inicial. O Sol teria, então, se formado na região central, mais
densa.
Nova e supernova, duas classes de fenômenos
explosivos que ocorrem em algumas estrelas.
Uma nova é uma estrela que aumenta muito seu brilho de forma
repentina e depois enfraquece lentamente, mas pode continuar
existindo durante certo tempo. Uma supernova exibe o mesmo tipo de
comportamento, mas a explosão destrói ou altera de forma profunda
a estrela. As supernovas são muito mais raras que as novas, que se
observam com bastante freqüência nas fotografias do céu.
Estrela, grande corpo celeste composto de gases
quentes que emite radiação
eletromagnética, em especial a luz, como resultado das
reações que ocorrem em seu interior.
Com exceção do Sol,
as estrelas parecem estar fixas, mantendo a mesma forma no céu ano
após ano. Na realidade estão em movimento rápido, mas a
distâncias tão grandes que sua mudança relativa de posição só
é percebida através dos séculos.
Calcula-se que o número de estrelas visíveis da
Terra a olho nu é de cerca de 8.000, das quais 4.000 estão no
hemisfério norte do céu e 4.000 no hemisfério sul. Em qualquer
momento durante a noite, em ambos hemisférios só são visíveis
2.000 estrelas. As demais se ocultam na neblina atmosférica,
sobretudo próximo ao horizonte, e na luz pálida do céu.
Os astrônomos calculam em centenas de milhões o
número de estrelas da Via
Láctea, a galáxia
a que pertence o Sol. A Via Láctea é apenas uma das milhares de
galáxias visíveis pelos potentes telescópios modernos. As
estrelas visíveis individualmente no céu são as que estão mais
próximas do Sistema
Solar na Via Láctea. A mais próxima de nosso Sistema Solar
é a Próxima do Centauro, uma das componentes da estrela tripla Alfa
do Centauro.
As estrelas se compõem sobretudo de hidrogênio
e hélio, com quantidades variáveis de elementos mais pesados. As
maiores que se conhecem são supergigantes com diâmetros 400 vezes
maiores que o do Sol. Já as estrelas conhecidas como anãs-brancas
podem ter diâmetros de apenas um centésimo do diâmetro do Sol.
Mais da metade das estrelas do firmamento são membros de sistemas
de duas estrelas (binárias) ou de sistemas múltiplos. Algumas
estrelas duplas próximas aparecem separadas quando são observadas
através de telescópios. A maioria é detectada como dupla só por
meio de espectroscópicos.
É provável que todas as estrelas, incluindo o Sol,
variem ligeiramente de brilho com certa periodicidade. Essas
variações apenas são mensuráveis. No entanto, algumas estrelas
mudam muito de brilho e são denominadas estrelas variáveis. As
mais espetaculares são as novas
e supernovas.
Muitas estrelas variáveis mudam seu brilho porque
oscilam, isto é, se expandem ou se contraem, como um balão. As
variações são de interesse extraordinário porque só se produzem
por alguma peculiaridade de sua estrutura interna, a qual se
desenvolve com o tempo. As estrelas variáveis podem, assim, conter
informações sobre a evolução estelar.
Com os radiostelescópios tem sido possível
descobrir numerosas fontes distantes de radiopulsos, qualificadas
como pulsares. Os indícios sugerem que os pulsares são estrelas de
nêutrons que giram e tem diâmetros de cerca de 16 km. Sua
densidade é tão grande que se uma pluma fosse feita de um material
semelhante teria uma massa de 91.000 toneladas.
Galáxia, grande conjunto de bilhões de estrelas,
todas interagindo gravitacionalmente e orbitando ao redor de um
centro comum. Todas as estrelas visíveis a olho nu (numa faixa
esbranquiçada do céu) na superfície terrestre pertencem à Via
Láctea. O Sol é apenas uma das estrelas dessa galáxia.
Além de estrelas e planetas, as galáxias contêm cúmulos ou
aglomerados estelares hidrogênio
atômico, hidrogênio molecular, moléculas
compostas de hidrogênio, nitrogênio, carbono e silício, entre
outros elementos, além de raios
cósmicos.

OBS.:
a CADA ponto luminoso que se vê na ilustração acima, é
simplesmente uma Galáxia com bilhões de estrelas e planetas
no seu interior. Calcula-se que em cada Galáxia exista mais de dez
bilhões (10.000.000.000) de sistemas solares como o nosso,
ou seja, numa Galáxia poderia existir mais de cem bilhões de
planetas (100.000.000.000). Somente em uma Galáxia. Pois, no
Universo existe mais de duzentos bilhões (200.000.000.000) de
Galáxias até no momento, computado pelos maiores e melhores
telescópios, como o Hubble. Imagine quantas formas de vidas
existiriam neste Universo com bilhões ou trilhões de planetas e
estrelas. Será que ainda muitos Ateus duvidariam da existência de
uma Poderosíssima Força, que chamamos, DEUS.
A única FORÇA CRIADORA deste INFINITO Universo.
Classificação das galáxias
As galáxias apresentam uma grande variedade de
formas. Algumas têm um perfil globular completo com um núcleo
brilhante. Essas galáxias, chamadas elípticas, contêm uma grande
população de estrelas velhas normalmente com pouco gás ou poeira
e algumas estrelas de formação recente. As galáxias elípticas
têm uma grande variedade de tamanhos, desde gigantes a anãs.
Ao contrário, as galáxias espirais têm a forma de
discos achatados e contêm apenas algumas estrelas velhas e uma
grande população de estrelas jovens, além de bastante gás,
poeira e nuvens moleculares, isto é, o lugar de nascimento das
estrelas.
Outras galáxias em forma de disco se denominam
irregulares. Essas galáxias têm também grandes quantidades de
gás, poeira e estrelas jovens, mas sua disposição não é em
forma de espiral.
Os quasares
são objetos que parecem estelares, mas seu grande deslocamento para
o vermelho indica que são objetos situados a grandes distancias.
Muitos astrônomos acreditam que os quasares são galáxias ativas
cujos núcleos contêm gigantescos buracos negros.
Distribuição das galáxias
As galáxias costumam formar agrupamentos de tamanho
pequeno e médio, que por sua vez formam grandes cúmulos ou
aglomerados de galáxias. Nossa galáxia pertence a um pequeno
agrupamento de aproximadamente 20 galáxias, que os astrônomos
chamam de Grupo Local. A Via Láctea e a galáxia de Andrômeda
são os dois membros maiores, com 100 bilhões a 200 bilhões de
estrelas cada uma. As Nuvens
de Magalhães são as duas galáxias mais próximas da Via
Láctea. Visíveis a olho nu, foram descobertas pelo navegador Fernão
de Magalhães na sua viagem de circunavegação.
Via Láctea, também chamada apenas a Galáxia,
agrupamento de estrelas com formato de disco, que inclui o Sol
e seu Sistema Solar.
Estende-se pelas constelações de Perseu,
Cassiopéia e Cefeu.

Para um observador colocado na Terra, aparece como
uma faixa fracamente luminosa que se observa à noite estendendo-se
pelo céu. A aparência difusa dessa faixa é o resultado da
combinação da luz das estrelas
demasiadamente próximas para serem distinguidas separadamente à
vista desarmada.
É uma grande galáxia em espiral, com vários
braços espiralados que se enroscam ao redor de um núcleo central.
A Via Láctea gira ao redor de um eixo que une os pólos galáticos.
Observada do pólo norte galático, a rotação da Via Láctea se
faz no sentido dos ponteiros do relógio, arrastando os braços da
espiral.
Sol, a estrela que, por efeito gravitacional de
sua massa, domina o sistema planetário que inclui a Terra. Mediante
a radiação de sua energia eletromagnética, comporta toda a
energia que mantém a vida na Terra, porque todo o alimento e
combustível procede em última instância das plantas que utilizam
a energia da luz do Sol. Ver Fotossíntese;
Energia solar.
Por causa de sua proximidade com a Terra e por ser
uma estrela típica, o Sol é um recurso extraordinário para o
estudo dos fenômenos estelares. Não se estudou nenhuma outra
estrela com tanto detalhe.
Composição e estrutura
A quantidade total de energia emitida pelo Sol em
forma de radiação é constante. Como a maioria das estrelas, o Sol
se compõe sobretudo de hidrogênio
(71%). Também contém hélio
(27%) e outros elementos mais pesados (2%). Próximo do centro do
Sol, a temperatura
é de quase 16.000.000°K e a densidade é 150 vezes a da
água. Sob essas condições, os núcleos dos átomos de hidrogênio
atuam entre si, fazendo a fusão nuclear (ver Energia
nuclear).
O Sol apresenta uma superfície visível chamada
fotosfera, uma atmosfera saturada de gases quentes com uma
temperatura de 6.000°K. A cromosfera, que se estende por milhares
de quilômetros acima da fotosfera, tem uma temperatura em torno dos
30.000°K. Sobre ela fica a coroa, mais difusa, que vai até o
limite interplanetário e tem uma temperatura de 1.000.000°K. O
material lançado pela coroa forma uma corrente de partículas
chamada de vento solar.
As áreas mais frias da fotosfera, que no Sol se
chamam manchas solares, provavelmente existem em outras estrelas. George
Ellery Hale descobriu em 1908 que as manchas solares
apresentam fortes campos magnéticos. O ciclo de manchas, em que a
quantidade varia de menos a mais e volta a diminuir ao cabo de uns
11 anos, é conhecido pelo menos desde o início do século XVIII.
Evolução solar
O passado e o futuro do Sol foram deduzidos dos modelos teóricos
de estrutura das estrelas. Durante seus primeiros 50 milhões de
anos, o Sol se contraiu até chegar ao tamanho atual. A energia
liberada pelo gás aquecia o interior e quando o centro ficou
suficientemente quente, a contração parou e começou a combustão
nuclear do hidrogênio em hélio. O Sol tem estado nesta etapa de
sua vida durante os últimos 4 bilhões e 500 milhões de anos.
Cometa (astronomia) (em latim stella cometa,
"estrela com cabeleira"), corpo celeste de aspecto
nebuloso que gira ao redor do Sol. Caracteriza-se por apresentar uma
cauda comprida e luminosa que só se produz quando o cometa está
nas proximidades do Sol.
O aparecimento de grandes cometas era considerado um
fenômeno atmosférico até 1577, quando o astrônomo dinamarquês Tycho
Brahe demonstrou que eram corpos celestes. No século XVII o
cientista inglês Isaac
Newton demonstrou que os movimentos dos cometas estão
sujeitos às mesmas leis que controlam os planetas.
Ainda que não se tenha aceitado de todo nenhuma
teoria detalhada de sua origem, muitos astrônomos acreditam que os
cometas surgiram nos primeiros dias do Sistema Solar, em sua parte
exterior, mais fria, a partir da matéria planetária residual.
As pessoas superticiosas consideraram durante muito
tempo que os cometas eram o presságio de calamidades ou
acontecimentos importantes. O aparecimento de um cometa despertava
também o temor de uma colisão com a Terra. Alguns cientistas
sugeriram que devem ter ocorrido colisões no passado, as quais
podem ter trazido um efeito climático que teria resultado na
extinção dos dinossauros.
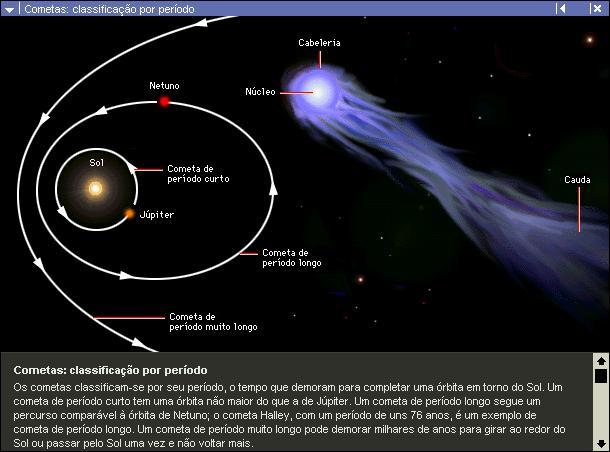
Composição
Um cometa consta de um núcleo claro, de gelo e
rocha, rodeado de uma atmosfera nebulosa chamada cabeleira ou coma.
À medida que um cometa se aproxima do Sol, a alta
temperatura solar provoca a sublimação (transição da fase
sólida para o vapor) do gelo, fazendo com que o cometa brilhe
intensamente. A cauda também se torna brilhante nas proximidades do
Sol e pode estender-se por dezenas ou centenas de milhões de
quilômetros. À medida que um cometa se afasta do Sol perde menos
gás e poeira, e a cauda desaparece.
João Evangelista, São (falecido
101 d.C.), um dos 12 apóstolos
no Novo Testamento. Participou da organização da primeira Igreja
na Palestina. Acredita-se que escreveu o Apocalipse,
ou Livro da Revelação, em Patos, onde, segundo a tradição, teria
se refugiado durante as perseguições romanas. De lá, seguiu para
Êfeso, onde redigiu três cartas e o quarto Evangelho.
Apocalipse, último livro do Novo Testamento,
rico em alegorias e sujeito a numerosas interpretações legítimas.
Em certas oportunidades, a obra é denominada Revelação.
O autor chama a si mesmo de João, e a tradição
eclesiástica mantém que se trata de São
João Evangelista. Entretanto, muitos especialistas se sentem
mais inclinados a atribuir o texto a algum outro destacado e
primitivo cristão. A opinião geral é de que foi escrito na ilha
de Patmos. Ali, talvez durante o reinado do imperador romano
Vespasiano (69-79 d.C.) — ainda que, com maior probabilidade,
tenha sido escrito durante o reinado do imperador Domiciano —, o
autor ouviu "uma grande voz, como de trombeta",
dizendo-lhe "o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às
sete Igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodicéia" (1,10-11).
O Apocalipse foi escrito para preparar os cristãos
ante a última intervenção de Deus nos assuntos humanos. A Igreja
primitiva acreditava que este acontecimento não tardaria a chegar.
Quando se produzisse, começaria uma nova era no mundo, aquela em
que Cristo e a Igreja seriam triunfantes. Entretanto, antes,
agravariam-se e intensificariam-se os males e terrores da ordem
mundial existente. O autor do Apocalipse interpretou a piora das
condições dos cristãos no império romano de Domiciano como um
sinal do começo deste período catastrófico. Tudo indica que o
autor escreveu, sobretudo, para encorajar os cristãos a resistirem
durante essa aterradora crise final, na confiante esperança do
advento de uma iminente era justa para a eternidade.
Em nossos dias, o Apocalipse é muito apreciado pela
sua magnífica qualidade literária, por sua descrição de uma
crise histórica do cristianismo, por sua sublime dramatização da
luta contra o mal e por suas visões de Deus e sua última
redenção eterna aos justos.
Evangelho segundo São João, quarto livro do
Novo Testamento. A tradição eclesiástica, da segunda metade do
século II, sustenta que foi escrito por São
João Evangelista e publicado no final do século I, talvez
na antiga cidade grega de Éfeso.
A mesma tradição diz que este foi o último dos Evangelhos,
opinião compartilhada pelos estudiosos modernos. Esta é a razão
pela qual aparece no cânone do Novo Testamento após os três
evangelhos sinópticos (Mateus, Marcos e Lucas) que, entre si,
compartilham pontos de vista e temáticas comuns.
Os especialistas mais liberais situam João na
última década do século I, ou na primeira do século II.
Tratamento do evangelho
O Evangelho de João divide-se em quatro seções
diferenciadas. A primeira (capítulo 1, versículos de 1 a 18) é um
breve prólogo sobre a natureza de Jesus Cristo como encarnação da
Palavra ou Verbo (capítulo 1, versículos 1, 2 e 14) - o Logos.
Logos significa razão e, na antiga filosofia grega,
representa o princípio reitor do Universo. Designa, ainda, uma
doutrina cristã que explica Deus como o agente divino manifestado
na criação, ordenação e salvação do mundo.
A segunda seção (capítulo 1, versículos 11 e 19
a 57) - ou, segundo a divisão de outros especialistas, capítulo
12, versículos 19 a 50 - apresenta o testemunho de que Jesus é o
verdadeiro Messias. Cristo, em outras palavras, é o Logos
encarnado. Este testemunho é prestado por João Batista e pelos
primeiros discípulos. Mas se expressa, sobretudo, através dos
milagres de Jesus que, assim, "manifestou sua glória"
(capítulo 2, versículo 11). Estes milagres são a transformação
da água em vinho em Canaã (Jo.2,1-11), a cura do filho de um
funcionário real (Jo.4,46-54), a cura de um homem que estava há 38
anos enfermo (Jo.5,1-9), a multiplicação dos pães e dos peixes (Jo.6,1-15)
— este, o único milagre registrado nos quatro Evangelhos —, a
cura de um homem cego de nascimento (Jo.9,1-7) e a ressurreição de
Lázaro, amigo de Jesus (Jo.11,1-46). Alguns exegetas consideram que
a aparição de Jesus caminhando sobre as águas (Jo.6,16-21) é
também um milagre, embora existam os que duvidem que este fenômeno
deva ser considerado como tal. Outros estudiosos enumeram a morte e
ressurreição de Jesus como fatos milagrosos (capítulo 19,
versículo 30).
Teólogos afirmam que a terceira seção do
evangelho de João começa com as últimas viagens de Jesus a
Betânia e a Jerusalém. Estas viagens marcaram o final do
ministério público de Cristo (capítulo 12). De acordo com os
teólogos, esta parte compreende a paixão e ressurreição de Jesus
(capítulos 12 a 20). Outros especialistas - seguindo a doutrina do Logos,
definida no prólogo -, sustentam que o tema fundamental da terceira
seção é o regresso do Filho encarnado ao Pai. Por estas
opiniões, a terceira seção começaria, então, no capítulo 13
(onde se conclui a peregrinação de Cristo) e iria até o capítulo
20. Seja qual for a estrutura escolhida, esta seção inclui o
relato da última ceia, o último discurso e oração de Cristo. Os
parágrafos narrativos descrevem o drama da traição, prisão,
julgamento, crucificação e sepultamento de Jesus e o testemunho
pessoal do sepulcro vazio e das aparições de Cristo ressuscitado
ante Maria Magdalena, os discípulos e o incrédulo Tomé.
A quarta seção de João (capítulo 21) é um
apêndice ou epílogo. Nele, Cristo ressuscitado aparece, pela
terceira vez, ante seus discípulos e ordena a Pedro:
"apascenta meus cordeiros" e "minhas ovelhas",
também prediz o martírio do apóstolo e fala sobre um discípulo a
quem ama. Este discípulo se identifica como o próprio autor do
Evangelho (capítulo 21, versículo 24).
Hinduísmo, religião originária da Índia e praticada pela
maioria de seus habitantes até os dias atuais. O hinduísmo é uma das maiores
e mais importantes religiões do mundo, não somente pelo seu número de adeptos
(estimados em mais de 700 milhões) mas, também, pela influência que, ao longo
da história, tem exercido sobre muitas outras religiões. Inciadas em torno de
1500 a.C, as leis do hinduísmo definem-se mais pelas ações das pessoas
do que por seus pensamentos. Em conseqüência, entre os hindus encontra-se
maior uniformidade nas ações do que nas crenças. Muitos hindus veneram Shiva,
Vishnu ou a Deusa Devi,
além de centenas de outras divindades menores. Existem práticas que são
observadas por quase todos, entre elas, reverenciar a brâmane
(casta) e as vacas (consideradas animais sagrados), a proibição de comer
carne, casar-se somente com um membro da mesma casta (jati) na esperança
de ter um filho homem.
Textos
Para todos os hindus a suprema autoridade são os quatro Vedas.
O mais antigo é o Rig-Veda, escrito em sânscrito
arcaico entre 1300 e 1000 a.C. Ao Rig-Veda foram agregados outros
dois: o Yajur-Veda (livro do sacrifício) e o Sama-Veda, de hinos.
Um quarto livro, o Atharva-Veda, uma coleção de palavras mágicas, foi
incluído em torno de 900 a.C. Nesta mesma época, também foram escritos
os Brahmanas e, no início de 600 a.C., os Upanishad.
As duas obras épicas sânscritas mais importantes são o Mahabharata
e o Ramayana. No
primeiro, relata-se a guerra entre os irmãos Pândavas liderados por seu primo Krishna
(deus) contra os também primos Káuravas. O segundo conta a viagem feita por Rama
para resgatar sua esposa Sita.
Filosofia
Os hindus acreditam que o universo é uma grande esfera dentro
da qual existem céus concêntricos, infernos, oceanos, continentes e que a
Índia é o centro desta esfera. A vida humana é cíclica: depois de morrer, a
alma deixa o corpo e renasce em outra pessoa, animal, vegetal ou mineral. A
qualidade da reencarnação vem determinada pelo carma.
Os hindus dividem-se em dois grupos: os que buscam as
recompensas sagradas e profanas (saúde, dinheiro, filhos e uma boa
reencarnação) e aqueles que procuram se libertar deste mundo. Muitos esforços
foram feitos para conciliar estas duas correntes.
Culto e rituais
Em cerimônias públicas e particulares, todos os deuses são
adorados. Devido às bases sociais do hinduísmo, as festas mais importantes
são as dos rituais de passagem: nascimento e primeiro alimento sólido,
matrimônio, benção para as grávidas, morte e oferendas anuais aos
antepassados mortos.
Dentro do ritual diário dos hindus são feitas oferendas (puja)
de frutas e flores perante um altar dentro de casa. Muitos povoados e cidades
possuem templos, muitas vezes considerados centros culturais, onde os sacerdotes
celebram cultos durante o dia. Existem milhares de templos locais que se resumem
numa pequena construção de pedra. Além disto, a Índia conta com inúmeros
templos grandes e, até mesmo, algumas cidades-templo. Vários lugares sagrados
ou santuários — como o de Rishikesh, no Himalaia, ou o de Benares, no
Ganges — são objeto de peregrinação de fiéis de todas as regiões da
Índia.
História
As crenças e práticas religiosas básicas do hinduísmo não
são compreendidas fora de seu contexto histórico. Apesar de ser impossível
situar os primeiros textos e eventos, traça-se seu desenvolvimento cronológico
com muita clareza.
No vale do rio Indo cresceu, em torno de 2000 a.C., uma
próspera civilização. Em 1500 a.C., quando as tribos arianas invadiram a
Índia, esta civilização entrou em decadência. Ver também Civilização
do vale do Indo.
Ao se fixarem no Punjab, os arianos traziam seu panteão de
divindades indo-européias. Os deuses do panteão védico sobreviveram no
hinduísmo tardio, mas já não eram objetos de culto. Em 900 a.C., os
arianos ocuparam o rico vale do rio Ganges, onde desenvolveram uma civilização
e um sistema social sofisticado. Durante o século VI a.C., o budismo
começou a infiltrar-se na Índia e, ao longo do milênio, interagiu com o
hinduísmo.
Aproximadamente entre 200 a.C. e 500 d.C., a Índia
foi invadida por grupos provenientes do norte e iniciou-se um período de
mudanças e definições para o hinduísmo. Durante esta época foram
concluídas as obras épicas Dharmashastras e Dharmasutras. No
império Gupta (entre 320 e 480 d.C.), quando grande parte do norte
da Índia esteve subjugada a um único poder, o hinduísmo clássico encontrou
sua máxima expressão: codificaram-se as leis sagradas, iniciou-se a
construção dos grandes templos e preservaram-se os mitos e rituais nos Puranas.
Durante o período seguinte ao da dinastia Gupta, surgiu um hinduísmo
menos rígido e mais eclético, formado por seitas dissidentes. Muitas das
seitas surgidas entre 800 e 1800 são movimentos que ainda perduram na Índia.
Durante o século XIX realizaram-se importantes reformas sob o
auspício de Ramakrishna, Vivekananda e das seitas de Arya Samaj e de Brahmo
Samaj. Estes movimentos procuraram conciliar o hinduísmo tradicional
com as reformas sociais e políticas. Do mesmo modo, os líderes nacionalistas
Sri Aurobindo Ghose e Mahatma Gandhi
procuraram extrair do hinduísmo todos os elementos que melhor servissem para
enfatizar seus propósitos políticos e sociais.
Atualmente, muitos autoproclamados mestres dos ensinamentos
religiosos da Índia emigraram para a Europa e Estados Unidos. O hinduísmo —
religião que ajudou a Índia a se sustentar por séculos, apesar da invasão
estrangeira e dos problemas internos — continua a desempenhar importante
função, proporcionando significado às vidas dos hindus de hoje.
Encarnação, adoção de uma forma terrestre por um
deus. Em tempos primitivos, sacerdotes e reis eram com freqüência considerados
encarnações divinas. No cristianismo,
a encarnação ou união da natureza divina com a natureza humana, na pessoa de Jesus
Cristo, é a doutrina central. Participando completamente do divino e do
humano (exceto no pecado), ele é considerado a personificação de Deus.
Reencarnação - (Transmigração), trânsito da alma
a um novo corpo ou forma de ser. Este conceito também se conhece como
encarnação.
Os antigos egípcios acreditavam na transmigração das almas,
assim como os gregos Pitágoras
e Platão. Esta idéia nunca
foi adotada pelo judaísmo e cristianismo ortodoxo.
Na filosofia e no pensamento ortodoxo oriental, esta crença
não se relaciona com a antiga religião dos conquistadores arianos. Aparece, na
Índia, pela primeira vez de forma doutrinal nas compilações filosóficas e
religiosas dos Upanishad. A partir de então, Samsara
(termo sânscrito para transmigração) tem sido um dos principais dogmas das
principais religiões orientais: hinduísmo,
budismo e jainismo.
Jainismo, uma das mais importantes religiões da Índia. Foi
fundada por Vardhamana Jnatiputra ou Nataputta Mahavira, entre 599 e
527 a.C. e assemelha-se muito ao budismo.
Rejeitam a origem divina, a autoridade dos veda
e veneram os santos que oferecem a salvação. Admitem a existência, como
instituição, das castas e praticam um grupo de 16 ritos essenciais.
Para o jainismo é fundamental a doutrina das duas eternidades,
conhecidas como jiva (alma vivente: a que desfruta) e ajiva (objeto sem vida: a
que desfrutou). Por outro lado, crêem que os atos da mente e do corpo produzem
um carma sutil, pequenas partículas de matéria que se transformam em
escravidão, devendo renunciar à violência para evitar o sofrimento na vida.
Esses princípios são comuns para todos, mas existem diferenças em relação
às obrigações religiosas entre os membros das ordens monástica (yatis) e os
laicos (sravakas). Os yatis devem guardar a observância de cinco votos: não
infligir dano, sinceridade, não roubar, abstinência sexual e negar-se a
aceitar presentes desnecessários.
Vedas (em sânscrito "conhecimento"), os escritos
sagrados mais antigos do hinduísmo
ou cada um dos livros que formam o conjunto. Estes escritos literários antigos
consistem de quatro conjuntos de hinos, incluindo formulações poéticas e
fórmulas cerimoniais. São conhecidas como Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda
e Atharva-Veda. Também são chamadas de as samhitas (que
significa "coleção").
As quatro coleções de vedas foram compostas em védico, uma
forma antiga do sânscrito. Acredita-se que as passagens mais antigas foram
escritas por estudiosos procedentes, em sua maioria, dos arianos que invadiram a
Índia entre os anos 1300 e
1000 a.C. No entanto, as coleções de vedas, tal como as conhecemos hoje,
datam, provavelmente, do século III a.C. Antes de serem escritas, sábios
chamados rishi as transmitiram oralmente, transformando-as e
elaborando-as durante este processo. Desta maneira, preservaram grande parte do
material ariano original e da cultura dravidiana da Índia, distinguidas,
claramente, no texto.
As três primeiras samhitas consistem num apanhado de
instruções para condução de rituais do período védico, oficiadas por três
tipos de sacerdotes que comandavam as cerimônias de sacrifícios. Rig-Veda
contém mais de mil hinos (em sânscrito, rig), compostos em várias
métricas poéticas e ordenados em dez livros. Sama-Veda revela passagens
em verso tomados, em sua maioria, do Rig-Veda. Yajur-Veda são
duas revisões compostas parte em verso e parte em prosa com o mesmo material,
ordenado de forma diferente. Também contém fórmulas para os sacrifícios (em
sânscrito, yaja significa "sacrifício").
Já Atharva-Veda parte do qual a tradição atribui a um rishi
chamado Atharvan, é composto por uma ampla variedade de hinos, encantamentos e
palavras mágicas.
Samsara, conceito fundamental da doutrina da
reencarnação no hinduísmo
e no budismo. Designa o ciclo
de vidas, mortes e renascimentos que cada ser sensível experimenta como
conseqüência de seu carma.
Todas as almas viajam por essa roda indefinida. Tanto o hinduísmo como o
budismo se esforçam para transcender este processo mediante a liberação
definitiva que supõe o aceso ao nirvana.
Pitágoras (c. 582-c. 500 a.C.), filósofo e
matemático grego. Suas doutrinas influenciaram Platão.
Até o ano 530 a.C., Pitágoras viveu em Crotona, uma colônia grega ao sul
da Itália, onde fundou um movimento com propósitos religiosos, políticos e
filosóficos, conhecido como pitagorismo. Sua filosofia só é conhecida
através da obra de seus discípulos.
Os pitagóricos aconselhavam obediência, silêncio,
abstinência de alimentos, simplicidade no vestir e nas posses e o hábito da
auto-análise. Acreditavam na imortalidade e na transmigração
da alma.
Entre as amplas investigações matemáticas realizadas pelos
pitagóricos destacam-se os estudos dos números pares e ímpares, dos números
primos e dos quadrados. Através destes estudos, foi estabelecido uma base
científica para a matemática.
Em geometria, a grande
descoberta da escola foi o teorema da hipotenusa, conhecido como teorema
de Pitágoras. A astronomia
dos pitagóricos marcou um importante avanço no pensamento científico
clássico já que foram eles os primeiros a considerar a Terra como um globo que
gira, junto a outros planetas, em torno de um fogo central.
Platão ( 428- 347 a.C.), filósofo grego, um
dos pensadores mais criativos e influentes da filosofia
ocidental. Discípulo de Sócrates,
aceitou sua filosofia e sua forma dialética de debate. No ano de 387 a.C.,
fundou em Atenas a Academia
que Aristóteles
freqüentaria como aluno. Seus escritos, em forma de diálogos, podem ser
divididos em três etapas de composição. A primeira representa o desejo de
divulgar a filosofia e o estilo dialético de Sócrates. As segunda e terceira,
compostas pelos diálogos dos períodos intermediário e final de sua vida,
refletem sua própria evolução filosófica, expondo já suas próprias
idéias.
O eixo de sua filosofia é sua teoria das formas ou das idéias.
Sob esta perspectiva, devem ser entendidas sua idéia do conhecimento, sua
teoria ética, sua psicologia e seu conceito de Estado. Platão, também,
distingue entre dois níveis de saber: a opinião e o conhecimento. O ponto alto
do saber é o conhecimento, porque concerne à razão, e não à experiência. A
razão, utilizada de forma adequada, leva a idéias que são corretas, e os
objetos dessas idéias racionais são os universais verdadeiros, as formas
eternas ou substâncias que constituem o mundo real. Influenciado por Sócrates,
estava persuadido de que se pode chegar ao conhecimento, teoria que expõe em A
República, mais particularmente em sua discussão sobre a imagem da linha
divisível e o mito da caverna.
Nesta obra, sua maior obra política, trata da questão da
justiça. O Estado ideal se compõe de três classes: os comerciantes, os
militares e os reis-filósofos. Cada classe está associada a uma das virtudes
tradicionais gregas: a temperança, o valor e a sabedoria. A justiça, que é a
quarta virtude, caracteriza a sociedade como um todo. O sistema educacional
ideal de Platão está estruturado visando a produzir filósofos-reis. Usou para
a análise da alma humana um esquema semelhante: a racionalidade, a vontade
e os apetites. Uma pessoa justa é aquela cujo elemento racional, com ajuda da
vontade, controla os desejos.
Sua teoria ética repousa na suposição de que a virtude é
conhecimento e que este pode ser aprendido. Esta doutrina também deve ser
compreendida no âmbito de sua teoria das idéias.
A influência de Platão através da história da filosofia foi enorme. O
neoplatonismo foi um importante desenvolvimento posterior de suas idéias, que
tiveram papel fundamental no desenvolvimento do cristianismo e no pensamento
islâmico medieval. Durante o Renascimento,
o primeiro centro de influência platônica foi a Academia Florentina, fundada
no século XV, próximo a Florença. Sob a direção de Marsilio Ficino, os
membros da Academia estudaram Platão em grego antigo. Na Inglaterra, o
platonismo foi recuperado no século XVII, pela escola de Cambridge. Sua
filosofia também influenciou pensadores do século XX, como Alfred North
Whitehead.
<<
Página Anterior
- Próxima
Página >>
(VOLTAR
A PÁGINA INICIAL)
|